Mídia Sem Máscara
| 31 Outubro 2011
Artigos - Cultura
Lendo a bela resenha que Gertrud Himmelfarb consagrou na New Criterion de outubro ao livro recentíssimo de Adam Kirsch sobre Lionel Trilling (Why Trilling Matters, Yale Univ. Press, 2011), tento, em vão, medir a diferença entre um país onde se busca recuperar a memória perdida do grande crítico e outro país onde a influência dele jamais penetrou nem pode penetrar.
Se nos EUA o estudo sério da literatura nas universidades foi quase soterrado sob toneladas de propaganda feminista, gayzista, islamista, comunista, africanista, o diabo, no Brasil a própria literatura desapareceu por completo – fato inédito na história de qualquer país do Ocidente –, mal subsistindo uma vaga lembrança do que essa atividade possa ter representado em épocas passadas.
Até a Academia Brasileira, que por algum motivo continua a chamar-se "de Letras" já não sabe direito do que se trata, imaginando ser coisa relacionada às pessoas dos srs. Lula, Ronaldinho Gaúcho, João Havelange, Diogo Nogueira e outros ali homenageados.
Mas não é só por isso que a mensagem de Lionel Trilling repercutirá nestas plagas como a campainha do recreio soando num cemitério. É também, e sobretudo, porque ela fornece o padrão de medida com que se pode avaliar a extensão da calamidade cultural brasileira, e esta última, aferida por semelhante critério, mostra já ter passado daquele ponto em que tomar consciência de um estado de coisas miserável é um princípio de esperança.
Brasileiros podem, é claro, continuar estudando, criando, descobrindo, escrevendo coisas boas. Mas serão contribuições individuais, isoladas, não integráveis em qualquer conjunto que valha o nome de "cultura nacional". Essa a conclusão a que chego quando examino a história mental deste país nas últimas décadas com os olhos de um aprendiz dos ensinamentos de Lionel Trilling, autor que li muito desde a juventude, com satisfação imensa, e do qual não posso dizer que tenha jamais discordado em algum ponto essencial.
O principal desses ensinamentos é que uma sociedade, sua história e sua política só podem ser compreendidos à luz daquela "imaginação moral" que se adquire com a assídua frequentação da grande literatura. A imaginação moral não é a absorção de um código moral, mas, ao contrário – nas palavras de Trilling –, "a consciência das contradições, paradoxos e perigos de viver a vida moral".
Himmelfarb observa que, ao longo das obras de Trilling, algumas palavras frequentes são "variedade", "possibilidade", "complexidade", "dificuldade", "sutileza", "ambiguidade", "contingência", "paradoxo" e "ironia". São os termos que traduzem a própria substância da vida moral, não como aparece no esquematismo abstrato dos códigos e regras, mas na realidade da existência concreta, que não é acessível à compreensão intelectual antes de ser elaborada em símbolos pela imaginação literária.
Os humanistas do quattrocento e do cinquecento, e antes deles os pedagogos das escolas monacais dos séculos 11 e 12, já haviam compreendido isso com clareza. Era na leitura dos clássicos que adquiriam o senso da compreensão, da benevolência, da misericórdia e da delicadeza de sentimentos – as virtudes propriamente humanas que os preparavam para a piedade e a caridade cristãs.
Foi com base em considerações dessa ordem que Lionel Trilling escreveu seu célebre estudo da ideologia americana dominante, The Liberal Imagination (1950).
A palavra "liberal", nos EUA, não tem nada a ver com o liberalismo econômico clássico que ela evoca espontaneamente no Brasil. Designa, bem ao contrário, o progressismo esquerdista que favorece os programas sociais, os impostos altos e o intervencionismo estatal, não raro o comunismo puro e simples.
O progressismo, observava Trilling, era de fato a única tradição intelectual dos EUA. Entre o povo havia sentimentos conservadores, mas não, entre os intelectuais, uma história contínua de ideias conservadoras em debate. Daí a importância de examinar o fundo de símbolos e emoções por baixo das ideias esquerdistas em evidência.
A primeira coisa que o crítico aí notava era a rigidez esquemática das reações morais, a falta de abertura para a variedade e ambiguidade das situações humanas, que tão nitidamente transparecia entre os conservadores como Samuel Johnson, Edmund Burke, Samuel Taylor Coleridge, Mathew Arnold – ou, acrescento eu, Balzac, Dostoievski, Leonid Andreiev, Manzoni, Papini, Henry James, Conrad, Mauriac, Bernanos, Soljenítsin, V. S. Naipaul, Eugenio Corti.
"Se o progressismo tem uma fraqueza desesperadora, é uma imaginação moral inadequada." Inadequada porque simplista e irrealista. "O progressista pensa que o bom é bom e o mau é mau: ante a ideia de bom-e-mau, sua imaginação falha."
A diferença aparece com ênfase máxima na maneira como os romancistas traçam os personagens de seus virtuais antagonistas políticos. Os romances escritos pelos conservadores pululam de revolucionários, comunistas, anarquistas, terroristas e assassinos políticos retratados com toda a complexidade moral da sua vida interior e das situações que atravessam.
Nos romances "de esquerda", o adversário político quase sempre aparece sob forma caricatural, desumanizada ou monstruosa, sem qualquer atenuante, sem qualquer ambiguidade, sem qualquer concessão relativista ou mera simpatia humana. Leiam Gorki, Barbusse, Brecht, Hemingway, John Steinbeck, Ilya Ehrenburg, Theodore Dreiser, Lillian Helman, Howard Fast, e entenderão do que estou falando.
É quase impossível conceber, na obra desses e outros romancistas de idêntica filiação ideológica, um personagem conservador ou de direita que tenha alguma virtude humana, alguma razão aceitável para ser como é e pensar como pensa. Há exceções, é claro, mas, em linhas gerais, a "imaginação moral", ou a simples compreensão humana, parece ser monopólio da literatura conservadora.
Não deixa de ser significativo que o próprio Georg Lukacs, o príncipe dos críticos marxistas, procurando na literatura de ficção exemplos de realismo objetivo à altura dos mais altos cânones do marxismo, os encontrasse antes nas obras de Balzac e Dostoievski – ou do apolítico Thomas Mann – do que entre os escritos de qualquer autor comunista.
A explicação de fenômeno tão uniforme e constante não me parece difícil de encontrar. O esquerdismo é quase sempre uma tomada de posição militante, que, se não leva necessariamente o escritor a filiar-se a um partido, ao menos faz dele um “companheiro de viagem” cujo círculo de convivência é em geral escolhido (por ele ou pelo próprio círculo) entre correligionários ideológicos.
O próprio Partido Comunista sempre se encarregou de fazer com que fosse assim: ao menor sinal de que um escritor ou artista tinha simpatias de esquerda, agentes comunistas tratavam de assediá-lo, infiltrando-se em todos os meios que o infeliz frequentava e fazendo o que podiam para tirar o máximo proveito político de suas palavras e induzi-lo a atitudes cada vez mais militantes, na vida e na obra (leiam Stephen Koch, Double Lives: Spies and Writers in the Secret Soviet War of Ideas Against the West, 1994).
Já o conservadorismo é na quase totalidade dos casos uma pura preferência pessoal, desacompanhada de qualquer empenho de combatividade militante e livre de envolvimento direto ou indireto em organizações políticas. É normal que, ao desenhar o perfil de seus possíveis antagonistas políticos, o romancista conservador se atenha antes às exigências do realismo psicológico e da "imaginação moral" que às de qualquer intuito pedagógico-partidário de "transformar o mundo". (Continua.)
Publicado no Diário do Comércio.



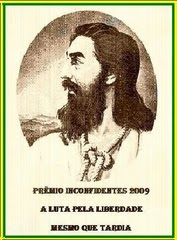






Nenhum comentário:
Postar um comentário