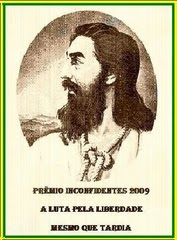Mídia Sem Máscara
| 30 Abril 2009
Artigos - Cultura
Se o raciocínio do bandido bom seduz a atividade dos Direitos Humanos (que como dá pra perceber, é dominado pela esquerda), o mesmo princípio se aplica aos tiranos, ditadores, genocidas e terroristas combatidos pelas democracias. No âmbito interno, a condescendência deles com os criminosos é uma afronta ao Estado de Direito; e o pacifismo internacional é uma arma poderosa contra as nações democráticas em escala internacional, em favor do totalitarismo.
É interessante notar, historicamente, o posicionamento de certos pacifistas, quando condenam algum tipo de guerra declarada em nossas democracias. Eles saem pelas ruas protestando contra as ações de seus governos e, inclusive, boicotam seus desdobramentos. Na mídia, chegam a demonizar os seus líderes políticos e seus próprios países. Eles partem do pressuposto ingênuo de que a paz é um ato de inércia, uma complacência com as nações inimigas, onde basta depor as armas e tudo será um paraíso do Éden. Se existe a ingenuidade, há também os demagogos. Recentemente, o presidente dos EUA, Barack Obama, expôs seu desejo de ver um mundo sem armas nucleares, comovendo os seus patéticos seguidores e admiradores. A declaração torna-se mais cômica ainda, quando horas depois, a Coréia do Norte joga um míssil sobre o mar do Japão e o Irã ameaça ter seu arsenal atômico, apontando bombas nucleares para Israel e para os próprios EUA.
Se o pacifismo na política externa é um desastre, que dirá no quesito da segurança pública? Os ativistas dos Direitos Humanos confundem a defesa das garantias individuais com a renúncia completa da proteção da sociedade contra a violência e os criminosos. No linguajar deles, o Estado não deve impor penas mais pesadas ou punir bandidos com severidade. Tudo o que o Estado tem a fazer é ser um elemento “ressocializador” do indivíduo, como se a criminalidade compreendesse altos valores morais, como se o assaltante ou estuprador médio fosse uma criança que apenas deveria ser advertida e mimada. Ou então, como se a polícia ou o judiciário devesse fazer caricias ao patife. Na pior das hipóteses, eles pregam a inépcia do Estado e o desarmamento da sociedade civil. Há até uma inversão de valores embutida: é disseminada a crença de que o criminoso é uma “vítima” da sociedade que deve ser poupada do Estado. E a vítima real, propriamente dita, do bandido, é um agente culpado pela ação do criminoso. Daí a histeria quando um bandido é morto por policiais. E a mais completa indiferença, quando uma mulher é estuprada ou o policial honesto é morto. Claro, o perigo mesmo não é o bandido ter armas; é o cidadão comum tê-las. A propaganda do desarmamento civil, insuflada pela imprensa e apoiada pelo governo, pregava a idéia idiota de que as armas matavam sozinhas. Ou que o cidadão médio, incapaz de usá-las, deveria ser totalmente dependente do Estado para sua proteção, revogando seu direito natural de legítima defesa. No geral, só duas castas sociais poderiam estar armadas, a polícia e o bandido, e o cidadão comum ficaria a mercê dos dois. O Estado não seria um complemento para a segurança publica; seria justamente usado para boicotá-la, através da proibição do uso de armas entre a população honesta, para sua proteção. O “pacifismo” hipócrita dessas militâncias se coaduna perfeitamente com a apologia do crime e o total desamparo da sociedade civil.
No entanto, a defesa dos Direitos Humanos soa estranha: como se pode defender o direito de alguém sem segurança? Alguém objetará que a tortura e o abuso policial devem ser condenados. Isso é também correto. Porém, por que se condena tão somente a tortura policial, quando na verdade há condescendência, senão cumplicidade, com a tortura imposta pelo criminoso? Não há nada concreto nos gloriosos pacifistas dos Direitos Humanos neste sentido. Pelo contrário, cada vez mais eles inventam pretextos para obstar a ação da polícia e inspiram uma legislação que, na prática, é uma completa licenciosidade com o crime, levando à impunidade.
É paradoxal que a militância dos Direitos Humanos seja tão pusilânime quando o bandido mata uma pessoa comum, e chegue a ser tão draconiana, quando se mata um ativista social qualquer. A morte da “freira missionária” Dorothy Stang (coloco entre aspas, porque tenho lá minhas dúvidas) fez com que a mesmíssima turma dos Direitos Humanos exigisse “punição rigorosa” aos assassinos! O mesmo raciocínio se aplica ao massacre de Eldorado dos Carajás e de Carandiru. O discurso dá uma reviravolta radical. Não é estranho? Esse pessoal passou anos criticando a dureza das penas e da ação da polícia e, de uma hora pra outra, muda radicalmente a ladainha, adotando o mesmo raciocínio do cidadão médio que é acusado de ser “fascista” por pedir justiça. Isso porque a choradeira em torno de Carandiru é de uma hipocrisia descomunal: por mais arbitrária que tenha sido a ação da polícia, os presos rebelados fizeram as piores barbaridades na cadeia, queimando colchões, decapitando presos rivais e cometendo outras demais atrocidades, além de ameaçar a vida da própria polícia. Todavia, bandido é intocável, salvo quando mata ativista social. Ou mais, bandido bom é aquele que tem “consciência social”: mata policial e cidadão comum e domina a favela.
Se o raciocínio do bandido bom seduz a atividade dos Direitos Humanos (que como dá pra perceber, é dominado pela esquerda), o mesmo princípio se aplica aos tiranos, ditadores, genocidas e terroristas combatidos pelas democracias. No âmbito interno, a condescendência deles com os criminosos é uma afronta ao Estado de Direito; e o pacifismo internacional é uma arma poderosa contra as nações democráticas em escala internacional, em favor do totalitarismo. São duas forças que desestabilizam a sociedade civil, tanto interna, quanto externamente, sujeitando-a as piores ameaças.
O cidadão médio do país democrático não gosta da violência, não gosta da guerra. Acostumado ao conforto e benesses de uma sociedade de direitos, a guerra, como a violência, parece algo que ameaça seu conforto, sua paz. Daí o discurso pacifista seduzi-lo, como se a sociedade de direitos não devesse ser defendida contra seus inimigos, como se a sociedade democrática mesma não houvesse inimigos. É como se a paz de sua casa ou de seu país não tivesse a necessidade de ser protegida pelas armas ou pelo exército.
Mas há uma contradição neste pensamento. O que difere a democracia das tiranias não é a ausência de força ou de guerra e sim a racionalização e a justificativa moral dos meios da violência. Os princípios da legitima defesa e da guerra justa são justificativas morais da ação violenta, quando há a provocação injusta. Só que nas democracias, a violência, embora existente, é limitada e usada apenas em casos muito particulares. Entretanto, ela existe e é um mal necessário, quando a outra parte se recusa a atitude pacífica ou conciliatória. A democracia só pode estabelecer uma ordem se tiver meios coercitivos de impor suas leis e a sua soberania. A lei sem espada é letra morta. O Estado sem armas é inepto.
Já no Estado totalitário, a violência ilimitada é regra, é expediente comum, e a arbitrariedade do poder se coaduna com a completa ausência de leis e indiferença ao ser humano. Se na vida social, o cidadão médio é mera engrenagem descartável do governo, que pode ser dispensado como algo inconveniente ou nulo, no caso da guerra, o Estado totalitário não tem nada a perder, porque a burocracia que comanda despreza o povo. Os direitos individuais simplesmente não interessam. É o povo escravizado e reprimido que vai pagar o preço. Daí estes modelos políticos estarem mais propensos a guerra e saberem explorar, como ninguém, as fraquezas das democracias. Porque guerrear é expandir os domínios. E a liberdade e o bem estar, que são as comodidades dos sistemas democráticos, tornam as democracias particularmente vulneráveis às tramóias e engodos totalitários. Até porque existe uma tendência maldita dentro das democracias de fazer prevalecer o bem estar, em detrimento, por vezes, da liberdade. Ou, no mais, de prevalecer a idéia de liberdade sem a devida obrigação de preservá-la. Uma contradição, pois se a ideologia totalitária promete o bem estar social sem liberdade, ela acaba destruindo as duas coisas. Neste aspecto, o pacifismo é o conformismo, a covardia moral das democracias. Os ditadores do século XX souberam entender perfeitamente esse mero detalhe do caráter e espírito das pessoas destas nações. Eles conseguiram ir mais além; superaram a visão turva das lideranças dos países democráticos, tão cegos quanto o povo, no desejo do conforto e da paz. Lênin, Stálin e Hitler escarneciam do pacifismo como um capricho tolo das democracias.
Na década anterior à segunda guerra mundial, a Europa pipocava de pacifistas insanos, que desarmavam as democracias, na mesma época em que se via a ascensão de Hitler e de Stálin. França e Inglaterra se recusaram a guerrear contra a Alemanha quando esta ainda era militarmente fraca e os nazistas souberam perfeitamente explorar o desejo de paz mundial pelos seus desejos de guerra. O tacanho primeiro-ministro inglês Chamberlain trazia um papel assinado por Hitler, garantindo a paz européia e deixando para trás os tchecos à rapinagem do exército alemão. E quando a União Soviética, aliada dos nazistas, entrou no centro de operações militares da guerra, invadindo a Polônia, conjuntamente com as tropas nazistas, a Europa despertou tarde demais para o pesadelo que sofreria anos depois.
É claro que o pacifismo, basicamente, é também uma arma de guerra. O Partido Nazista e o Partido Comunista estavam por trás da sólida campanha de desarmamento da Europa democrática, financiando títeres e colaboradores na imprensa e na opinião pública. Se o pacifismo sonha com o mundo de paz, ele tem sua inquisição ideológica. Líderes como Churchill e De Gaulle eram malvistos justamente porque previram a guerra e sentiam a necessidade de precipitá-la, para evitar algo pior. O general De Gaulle dizia em alto e bom som: a França está militarmente obsoleta em relação a Alemanha e será derrotada por ela. Porém, o pragmatismo destes políticos se esbarrou na cegueira convencional do pacifismo, do horror à guerra, que era, naquele momento, inevitável.
Outro exemplo clássico é a guerra do Vietnã. Um mito disseminado entre a mídia e nos livros de história é a de que os EUA sofreram uma derrota militar no sudeste asiático. Contudo, isso é uma falácia. A ofensiva do Tet, que a imprensa esbraveja como vitória comunista, foi uma das maiores derrotas militares do exército de Ho Chi Min, tendo sido destroçado dois terços do exército do Vietnã do Norte. Na prática, os americanos retrocederam com a guerra ganha. E por que esse milagre? Mais uma vez a onda pacifista e de propaganda de desinformação boicotou a vitória militar de uma nação. A maior arma contra os EUA na guerra do Vietnã foi a imprensa, seja em escala nacional e mundial, cúmplice da esquerda ou mesmo esquerdista e simpática aos comunistas. O boicote ao país foi tão intenso, a demonização do exército americano foi tão profunda, que isso fez reverter todo o espírito de luta em favor de um inimigo invisível (a União Soviética e a China, que apoiavam o Vietnã do Norte). Ou seja, a “subversão ideológica”, que minou o moral das tropas americanas e a vontade do país de vencer a guerra.
Os vietnamitas comunistas, fiéis servos de Moscou e de Pequim, foram retratados pela imprensa americana e por uma boa parte da mídia mundial como “libertadores”. Quando os americanos foram embora, em
A mesma apelação é visível na guerra do Iraque, quando os EUA derrubaram o regime de Saddam Hussein. Os americanos são criminalizados pela mídia mundial, na mesma proporção em que o ditador iraquiano é sacralizado, elevado nas auras da benevolência, junto com a chamada “resistência iraquiana”, que é um bando de terroristas fanáticos que não possuem escrúpulos quando explodem bombas em Bagdá e matam civis. O mesmo sentido se aplica a Israel, na guerra de Gaza. A mídia mundial denuncia as supostas atrocidades israelenses e esconde da opinião pública os crimes comprovados do grupo terrorista Hamas. O pacifismo, por assim dizer, é para inibir o direito das democracias de se defenderem. Na verdade, é também unilateral: os pacifistas são capazes de defender a mais violenta hostilidade das nações totalitárias e, ao mesmo tempo, compactuar com a sujeição humilhante das democracias.
A onda demagógica de pacifismo do presidente Barack Obama com o Irã e o mundo islâmico soa como traição, como farsa. E a omissão atual dos EUA com a América Latina é uma cegueira geopolítica de proporções imprevisíveis. O mundo, para o bem e para o mal, já está em uma situação de guerra. O ditador iraniano Amadinejah já prepara sua primeira bomba atômica, hostilizando Israel; o islã fanático há muito é uma ameaça ao mundo ocidental e declara abertamente destruí-lo através do jihad e do terrorismo; a Coréia do Norte hostiliza o Japão e a Coréia do Sul; e Hugo Chavez da Venezuela declara abertamente o desejo de convulsionar a América Latina e varrer as democracias do continente sul-americano. Sem contar a China e a Rússia, que são uma incógnita à parte neste processo. Em suma, o pacifismo é uma notória cretinice.
A paz não é inércia, é equilíbrio de forças que se consagra pela diplomacia, mas que se preserva pelo uso das armas. O mundo só não está numa guerra declarada porque existe o exército americano para contrapor às forças totalitárias existentes no mundo. As hordas comunistas e islâmicas ainda temem as tropas do ocidente. Enquanto houver ditadores nas ruas e nações fora-da-lei, tais como os bandidos nas cidades, haverá a necessidade de polícia e de exército para preservar a ordem pública. A inércia dos pacifistas de última hora não é a paz, é a derrota.