por João Nemo em 11 de janeiro de 2008
Resumo: Não há soluções simples, práticas e com resultados rápidos ou garantidos para a guerra difusa que está armada contra o Ocidente.
© 2008 MidiaSemMascara.org
O pessoal da dita Al Qaeda, sejam eles quem forem, já avisou que não tem nada a ver com a morte de Benazir Buttho. Eles são, como se sabe, homens honrados. Só mentem quando Alá permite e, como são insondáveis os desígnios de Deus, é difícil saber se estão ou não mentindo mais uma vez. Já há algum tempo, a Al Qaeda transformou-se numa espécie de franquia do crime político, funcionando mais ou menos como uma rede de “fast food”. Se você é islâmico e fundamentalista, tem alma revolucionária e está interessado em transformar gente em frango a passarinho, adquira o kit básico, abra o negócio, mantenha-o e pode contar com a marca, o visual e tudo mais. Por isso, vejo algumas pessoas descrentes, achando a logística e a onipresença da organização impossíveis. Ora, ela não tem uma estrutura verticalizada que possa ser encontrada e destruída; mora no espírito dos fanáticos e maníacos pelo mundo afora. Tornou-se uma marca e um estilo.
Quando me refiro ao estilo, tenho em mente algumas novidades, além do fato de ter virado uma franquia. Tradicionalmente, os grupos terroristas se valorizavam cometendo atentados, reivindicando a autoria e buscando legitimar-se como interlocutores políticos pela importância adquirida na defesa de uma causa. Quase sempre essa causa era bem específica, reivindicações extremadas de algum lugar. Violência e proselitismo político buscam apoiar-se mutuamente e mesmo no caso palestino – muçulmano, portanto – esse é o modelo básico. O IRA só faz sentido na Irlanda, o ETA no “país” basco e os diversos grupelhos comunistas pelo mundo afora sempre se abrigaram sob uma pretensa bandeira de “libertação” ou algo parecido. O que vemos agora é um terrorismo globalizado, tendo como palco o espaço internacional e como objetivo demolir a segurança do chamado Ocidente, atingindo qualquer coisa simbólica como alvo e com especial ênfase sobre os Estados Unidos por uma razão muito simples: é lá que mora a força do Ocidente, tanto no sentido ideológico como econômico e militar.
De um modo geral, os grupos de ação terrorista sempre procuraram promover-se acima das suas verdadeiras possibilidades, ganhar notoriedade, fazer-se temidos e alcançar maior importância relativa para “negociar” em posição mais vantajosa. Sempre desejaram ser avaliados acima da sua capacidade real e, portanto, não faria muito sentido esconder as próprias ações. Mas esse paradigma mudou. Após o 11 de setembro, seguiu-se uma série inicial de negativas do próprio Bin Laden. Primeiro ele dizia nada ter a ver com o fato; depois, os Talibãs que o abrigavam negavam a sua presença no território afegão; em seguida, passaram a dizer que desconheciam o seu paradeiro e o próprio Bin Laden, só mais tarde, reapareceu destacando o feito e exaltando os executores do famoso atentado. No episódio de 11 de setembro de 2001 o desejo evidente era deixar a vítima no escuro e sem alvo para resposta. Muito diferente de 11 de março de 2004 na Espanha, onde o objetivo de interferir – como, de fato, interferiu – nos resultados eleitorais, fez com que fossem plantadas cuidadosas evidências de que se tratava de um atentado islâmico. Em outras palavras, o foco está notoriamente voltado para manipular a opinião pública. A destruição e a morte são apenas instrumentos usados sem qualquer escrúpulo; mentira ou verdade, recursos indiferentes, conforme a conveniência para atingir o alvo principal: disseminar insegurança, desorganizar os processos democráticos, onerar o sistema econômico, estimular o espírito de capitulação e enfraquecer a confiança em geral. Esses atos, associados ao trabalho de uma mídia enviesada e cheia de palpiteiros de ocasião, causam um estrago difícil até de dimensionar.
Como combater, em pleno exercício das liberdades civis e democráticas, inimigos para quem tudo é permitido em nome da defesa de supostos injustiçados, que não reconhecem limites éticos ou jurídicos de qualquer espécie, que estão previamente absolvidos das maiores barbaridades porque, pobrezinhos, lutam contra os mais fortes? Como combatê-los com eficácia numa sociedade aberta, enquanto seus simpatizantes, com refinada hipocrisia, cobram os mais elevados padrões de comportamento por parte dos governos? Não há dúvida de que é preciso ter uma resposta satisfatória sem cometer o que Paul Johnson considera a maior ameaça do terrorismo: induzir a própria democracia liberal ao suicídio.
Entre os instrumentos de ação antiterrorista, aquele em que os Estados Unidos apresentam a maior vantagem comparativa é o militar e, por isso, não é de estranhar que venha demonstrando certa preferência por esse tipo de intervenção. Porém, seria menosprezar a inteligência alheia imaginar que não tenham consciência de que se trata de um instrumento insuficiente e, na maior parte das vezes, inteiramente inadequado. Já a eficácia dos órgãos de informação – a tão comentada CIA, por exemplo – sugere um retrospecto histórico muito ruim, não porque sejam incapazes de coletar informações, mas porque, na melhor das hipóteses, pareçam ter um desempenho sofrível na hora de interpretá-las. Uma questão crítica dos dias que correm é saber jogar com a opinião pública e, nesse caso, as próprias virtudes domésticas da política americana tornam-se uma armadilha. Para a cultura democrática dos EUA, a opinião pública é algo que se expressa em clima de liberdade para ser ouvida por quem decide; para a mentalidade totalitária, é algo que deve ser manipulado através de mecanismos apropriados para esse fim. Embora nenhuma das duas coisas sobreviva em forma inteiramente pura, o substrato básico é esse. Daí que, numa democracia, seja desejado que as pessoas se esclareçam e, num regime totalitário, que sejam esclarecidas pelas mensagens que lhes são servidas como prato feito.
A natural tendência estadunidense em separar crime político de manifestação de opinião, seja ela qual for, está correta do ponto de vista de quem preza a liberdade de expressão. São coisas distintas: o primeiro, se possível fosse, deveria ser erradicado, enquanto a segunda é indispensável no conjunto dos direitos essenciais. Entretanto, isso não permite menosprezar o fato de que, no tabuleiro do confronto, as duas coisas podem ser usadas articuladamente. Todo movimento terrorista procura ter o seu “braço político”, que gentilmente explica à mídia porque o agredido é culpado não apenas dos seus próprios erros, mas também das coisas más que obriga o adversário a cometer devido à sua perfídia ou intransigência. O próprio 11 de setembro, um ato que qualquer pessoa sensata deveria ver como perversão repugnante e absurda, mal acontecera já podia contar com uma porção de supostos “especialistas” explicando, na mídia, porque no fundo a culpa era do agredido. Não é preciso receber ordens ou ter qualquer contato, por mais remoto que seja, com os celerados capazes de atos dessa natureza. Basta estar sintonizado com um certo tipo de mentalidade. Os revolucionários de salão são ainda mais canalhas que os de campo, porque, castrados e covardes, se comprazem com frases do tipo: “Foi uma coisa horrível, mas, porém, todavia...”. E lá vem o torpe malabarismo mental dos farsantes e ressentidos. Mesmo que sua conversa não seja convincente para a grossa maioria das pessoas, presta-se a oferecer racionalizações para que os simpatizantes não fiquem sem argumentos, e ajuda a gerar dúvida e confusão na cabeça de outros tantos. Na verdadeira guerra, ou seja, naquela que se trava pela conquista dos corações e mentes, isso é fundamental.
Já no campo de ação do terror propriamente dito, o trabalho é bem mais rude e consiste em emitir uma mensagem clara: as conseqüências do enfrentamento são implacáveis. Pouco importa se esse enfrentamento é feito por meios pacíficos, pregação política desarmada, chamamento à concórdia, etc. A penalidade é a eliminação física. A pregação de alternativas desarmadas viáveis é vista como muito mais ameaçadora, por parte de quem procura semear a violência, do que os oponentes militares ou policiais. A estes, se arrasta para a lama da guerra suja, mas aqueles que se qualificam para disputar corações e mentes podem atingi-los no ponto mais vulnerável, onde uma derrota tornar-se-ia fatal. Se o proselitismo, seja ele vinculado, feito apenas por simpatia ou, ainda, por mera irresponsabilidade, protege a ação terrorista, a recíproca também é verdadeira: o terror não pode perdoar a quem tem capacidade potencial para reduzi-lo a simples banditismo vazio.
Numa visão panorâmica da luta antiterror, um aspecto que merece especial reflexão é a evidente incapacidade, ao longo dos anos, de proteger protagonistas políticos vitais para oferecer alternativas de solução legítima em substituição à violência. Isso deveria, a meu ver, ser prioridade máxima dentro de um projeto estratégico que fugisse à simplicidade do mero confronto armado.
Vejamos quão graves têm sido as perdas nesse aspecto.
Por ocasião do ataque norte-americano ao Afeganistão, em 2001, o senhor Abdul Haq, herói da guerra anti-soviética e carismático líder com trânsito entre as diversas etnias, sendo ele próprio um Pashtu, retornou do Paquistão para sua terra Natal então dominada pelo Talibã. Pouco depois, após um cerco e uma fuga a cavalo com requintes cinematográficos, foi capturado e rapidamente executado. Já havia o antecedente da eliminação de outro grande líder Tajik no mesmo ano, Ahmad Shah Massoud, por suicidas árabes usando uma câmera carregada de explosivos, mas Haq tinha, além de um currículo com 12 ferimentos de guerra, um perfil carismático que se manifestava igualmente no Afeganistão e fora dele.
Já o Iraque é, por certo, o local onde se concentra o mais ferrenho esforço para evitar qualquer acomodação política bem sucedida. Um Iraque pacificado, apesar dos tão comentados erros americanos, é visto como algo inaceitável, um verdadeiro pesadelo. É preciso muito antiamericanismo para acreditar que a matança lá vigente se deva a patriotas rebelados contra a presença de tropas estrangeiras. Bem ao contrário: são mortos inocentes às centenas, sem qualquer hesitação, para evitar que os americanos saiam, interrompendo o engajamento e desgaste que a sua presença no país representa. A doutrina do terror aceita quantas mortes forem necessárias, mas não aceita conceder ao inimigo uma imagem de missão bem sucedida, até porque, nesse caso, como no Afeganistão, o elevado custo econômico decorrente é percebido como uma poderosa arma. Eles devem ter lido “Ascensão e Queda das Grandes Potências”: o volume crescente de encargos, compromissos e obrigações como fator de esgotamento, decadência e colapso.
Nesse cenário, vale lembrar três casos. Após a queda de Saddam Hussein, foram mortos em atentados dois clérigos xiitas respeitadíssimos no país e fora dele, ambos vindos do exílio, com o perfil moderado e pacificador necessário para colaborar no processo de reorganização do país. Em abril de 2003, foi Abdul Majid al-Khoei, retornado de longo exílio em Londres. Foi assassinado na própria mesquita, em Najaf, havendo fortíssimos indícios de envolvimento de outro clérigo – Muqtada al-Sadr – que comanda com o mesmo desembaraço orações e milícias armadas. Pouco depois, em agosto do mesmo ano, um carro-bomba foi usado para tirar a vida do Ayatollah Mohammad Bakr al-Hakim, que também voltara de um longo exílio, principalmente no Irã. Era visto por muitos como a maior esperança de pacificação do país pós-Saddam.
Finalmente, depois de muita hesitação, a ONU enviou ao Iraque o seu melhor trunfo para situações dessa complexidade: o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, homem que unia cultura, habilidade diplomática, carisma pessoal e experiência em cenários de conflito. Poderia representar um raio de luz na evidente incapacidade ocidental de compreender e agir naquela confusão. Pouco antes de embarcar para o Iraque, aceita o convite para uma conversa na Casa Branca; ao chegar lá, apresenta-se oficialmente ao administrador Paul Brenner, mas mantém ostensiva distância do aparelho militar americano ao se instalar no cenário, atendendo às recomendações do seu chefe imediato, o Secretário Kofi Annan. Em poucas semanas de atuação, inicia contatos sistemáticos com as mais variadas lideranças no país, é o único estrangeiro a ser convidado para falar na reunião do Conselho Transitório Iraquiano e morre num atentado brutal evidentemente planejado para atingir, com um caminhão bomba, o setor do edifício onde se situava a sua sala.
Em nenhum dos casos citados, seja no Afeganistão, seja no Iraque, ou ainda neste episódio de Benazir Bhutto, pode-se alegar que se tratasse de algum “pau mandado” dos americanos ou alguém dedicado ao confronto armado. Alguns eram críticos históricos, mas moderados, da potência ocidental – pessoas com luz própria, lideranças obtidas por mérito e esforço, mas capazes de construir pontes e obter acordos. Não falamos, necessariamente, de santos. Benazir, por exemplo, era acusada de desvio de verbas ou coisa assim, mas representava, seja como for, uma saída política interessante para um país que parece condenado a escolher entre caos ou solução autoritária. Alguns dirão que o principal interessado na sua morte era o próprio General Pervez Musharraf, que, a meu ver, fez a escolha errada entre o Exército e a Presidência, o que poderá comprometer a sua longevidade e levar o sistema político vigente a um beco sem saída. Em países assim, para deixar as Forças Armadas e mais tarde entregar pacificamente a Presidência a algum sucessor, é preciso estar com as malas prontas e não se dizer aonde vai.
Certamente, não há soluções simples, práticas e com resultados rápidos ou garantidos para a guerra difusa que está armada contra o Ocidente. A mentalidade revolucionária, extremamente competente para destruir, mas completamente inepta para construir qualquer coisa que preste, conquistou adeptos demais, inclusive entre os tolos e ressentidos de todo o mundo. Formou uma cultura multifacetada da qual o extremismo islâmico é apenas a imagem mais evidente. Uma coisa, porém, parece clara: trata-se de um jogo de múltiplos tabuleiros e, em alguns deles, o mundo livre – para usar uma expressão da Guerra Fria – mostra-se bastante desajeitado. Há quem goste de fazer forçadas analogias com a guerra do Vietnã e a maioria delas não se sustenta, mas há um aspecto que comporta alguma semelhança: o fato de que mesmo com esmagadora supremacia militar pode-se perder a guerra psicológica e de propaganda. É conhecido o fato de que a famosa ofensiva do Tet foi uma catástrofe militar completa para o Vietnã do Norte, mas um fabuloso sucesso de público e de crítica. Esse é o maior risco para países democráticos, que obrigatoriamente devem conviver com a sua própria quinta-coluna na imprensa, no meio acadêmico e artístico. É um combate a ser travado no front interno e por meios democráticos, sob pena, como citei anteriormente, de “suicidar” a própria liberdade que se pretende defender.



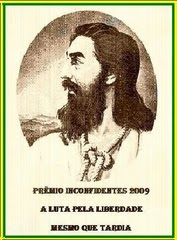






Nenhum comentário:
Postar um comentário