por João Luiz Mauad em 12 de setembro de 2008
Resumo: A raiz de todo o problema envolvendo as empresas Fanie e Freddie que ocupa as manchetes dos jornais pelo mundo, está justamente na característica híbrida (meio estatal, meio privada) destas empresas.
© 2008 MidiaSemMascara.org
Fannie e Freddie são duas empresas privadas, mas nem tanto. Digamos que sejam mais ou menos privadas, de acordo com a lente com que se olhe para elas. No jargão do mercado financeiro norte-americano, são chamadas de Government-Sponsored Enterprises – ou simplesmente GSEs. Atuam no mercado como uma espécie de agenciadoras de hipotecas e foram idealizadas para a missão de transformar o sonho da casa própria em realidade.
De acordo com informações da revista The New Yorker, diferentemente das empresas normais, Fannie e Freddie estão isentas de uma boa parcela dos impostos, bem como do cumprimento de algumas exigências legais e burocráticas, além de terem acesso privilegiado a linhas de crédito governamentais. Elas não são as únicas GSEs existentes no mercado americano. Outras agências de fomento de crédito, voltadas para o setor agrícola, sindical bancário, etc., foram planejadas pelo Leviatã Ianque, desde o advento do famigerado New Deal. Em cada um dos casos, o Tio Sam enxergou uma falha do mercado e resolveu intervir, sempre visando ao bem comum, evidentemente.
As GSEs são estrovengas curiosas. Não há qualquer razão aparente para que elas existam da forma como são, já que, no lugar de “patrocinar” empresas privadas para cuidar destes assuntos, o governo poderia simplesmente fazer o trabalho “filantrópico” ele mesmo. De fato, foi assim que Fannie Mae nasceu, em 1938. Originalmente, tratava-se de uma agência pública cujo objetivo era financiar hipotecas. Somente em 1968, a Fannie foi privatizada e, dois anos depois, em 1970, nasceu Freddie, supostamente com o objetivo de fazer concorrência à irmã primogênita.
A raiz de todo o problema, que hoje ocupa as manchetes dos jornais pelo mundo, está justamente na característica híbrida (meio estatal, meio privada) destas empresas, o que acabou permitindo que elas crescessem como dois monstros. Por conta do patrocínio subliminar e das isenções concedidas pelo Tio Sam, Fannie e Freddie podiam oferecer aos bancos e financeiras taxas mais baixas e atrativas que o resto do mercado, fato que permitiu que o portfólio de ambas inflasse de forma desmesurada e assumisse um perfil de risco acima do razoável.
Sua forma híbrida sem dúvida contribuiu de decisivamente para que as coisas chegassem aonde chegaram. Caso as duas empresas fossem exclusivamente privadas, o próprio mercado as trataria com as devidas cautelas, e quanto mais riscos elas fossem assumindo, mais os investidores avaliariam seus investimentos nelas, e menos atrativas seriam as suas ações e debêntures. Por outro lado, caso elas fossem agências públicas, uma barreira de restrições orçamentárias teria provavelmente limitado o crescimento exagerado de suas carteiras. Entretanto, como nem o mercado nem o governo fiscalizaram as suas operações como deveriam, elas inflaram sem parar.
O resultado foi que Fannie e Freddie navegaram durante um longo período no melhor de dois mundos. Enquanto colhiam os enormes lucros provenientes de sua situação privada, gozavam, ao mesmo tempo, das garantias do setor público. Aparentemente blindadas contra os riscos naturais do mercado, suas administrações tornaram-se, paulatinamente, negligentes, principalmente em meio ao boom do mercado imobiliário nos últimos anos. Foi assim que acumularam uma montanha de títulos hipotecários, estocados sobre uma pequena base de capital (cinco trilhões de dólares em hipotecas, contra 81 bilhões de capital, aproximadamente). Embora somente uma ínfima parcela dessas hipotecas esteja apresentando problemas, ainda assim os números são estratosféricos, e esta é a razão pela qual, nas últimas semanas, os investidores finalmente perderam a confiança nelas.
No domingo, 7 de setembro, o Tesouro Americano resolveu intervir nas duas empresas, demitiu a administração de ambas e prometeu uma ajuda financeira, com dinheiro dos contribuintes, que pode chegar à bagatela de US$ 200 bilhões. Em síntese, o governo fez exatamente aquilo que o mercado sempre achou que algum dia ele faria: evitou que suas filhas bastardas fossem à bancarrota.
Imediatamente, vozes se levantaram, dentro e fora dos EUA, a favor e contra a intervenção. Tayler Cowen, por exemplo, um excelente economista, oriundo de uma escola eminentemente liberal (no sentido clássico), a George Mason University, defendeu, em seu blog, a iniciativa do departamento do tesouro com argumentos fortes e, até mesmo, um tanto contundentes. Escreveu ele há alguns dias:
“Digamos que o Tesouro não tivesse suportado o débito das agências... Os chineses compraram mais de $ 300 bilhões daquelas coisas e a eles foi dito que o negócio era essencialmente sem risco. O fluxo de capital do Banco Central chinês e de outros bancos centrais, fundos soberanos, bem como da maioria dos nossos antigos investidores, rapidamente esvair-se-ia. O dólar cairia, digamos, de 30 a 40 por cento numa semana; o sistema de pagamentos entraria em pane; nos centros de compensação (clearinghouses), chamadas para cobertura de margens nunca seriam suficientes e somente a suspensão dos pregões evitaria que o Dow (índice Dow Jones, principal indicador da bolsa de valores de Nova York) perdesse metade de seu valor. A maior parte do sistema bancário dos EUA ficaria insolvente. Ações emergenciais do FED e do Tesouro iriam recapitalizar o FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), mas nós perderíamos a independência do Banco Central e a oferta de moeda tornar-se-ia uma loteria. A taxa de desemprego subiria rapidamente para a casa dos 2 dígitos e por lá ficaria. Muitos americanos ficariam sem acesso às suas poupanças. Os investimentos estrangeiros futuros tornar-se-iam notavelmente baixos. O governo federal perderia o seu rating AAA (avaliação de risco) e nós passaríamos a pagar muito mais pelo custo da dívida pública. O déficit (orçamentário) subiria como um foguete.”
Não resta dúvida de que são previsões quase apocalípticas, mas isso é exatamente o que pensam aqueles que defendem as intervenções do governo nos mercados financeiros quando o famigerado “risco sistêmico” está envolvido. Outros economistas, entretanto, são menos catastrofistas, como Gregory Mankiw, de Harvard:
“Fico deprimido sempre que uma empresa privada, com fins lucrativos, é retirada da falência com a ajuda de recursos públicos, seja ela a Chrysler, instituições de poupança, Bear Sterns ou outras GSEs. Estas ‘ajudas’ são, na verdade, as sementes da próxima crise financeira, pois alimentam expectativas sobre futuras ajudas (bailouts) e encorajam a assunção de riscos cada vez maiores. (E, antes que alguém me mande e-mails dizendo que os controladores das duas GSEs não estão exatamente tendo um bom negócio no momento, deixe-me explicar que os portadores de hipotecas (debt holders) estão. Num sistema capitalista, é desejável que ambos os lados, donos de ativos e passivos, assumam as conseqüências dos seus riscos. Quando os contribuintes são chamados a pagar a conta, alguém está sendo isolado do risco.)
“O problema está longe de ser resolvido, já que o futuro destas instituições e de um vasto segmento do sistema financeiro está ainda para ser determinado. A parte mais inquietante deste futuro será determinada pela área política, a mesma que criou as GSEs e falhou em controlá-las, embora diversos economistas tenham sugerido que reformas eram necessárias. Acreditar que o Congresso fará um bom trabalho daqui para frente seria o triunfo da esperança sobre a experiência.”
O leitor que me acompanha sabe que estou fechado com a opinião do último.



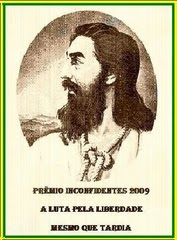






Nenhum comentário:
Postar um comentário