Mídia Sem Máscara
Nivaldo Cordeiro | 13 Dezembro 2009
Artigos - Conservadorismo
O direito natural clássico corrobora o ideal do regime político pensável da aristocracia, tida como o melhor de todos, vez que neste regime o poder estaria com os mais virtuosos e a coletividade a ele subordinada voluntariamente, por ver nos governantes pessoas egrégias.
Ficha Técnica:
Leo Strauss, Direito Natural e História, Tradução de Miguel Morgado, Lisboa, Edições 70, 2009 (Publicado originalmente em inglês, em 1950).
Miguel Morgado, A Aristocracia e seus Críticos, Lisboa Edições 70, 2008.
Miguel Morgado é um jovem filósofo português ainda pouco conhecido no Brasil. Professor no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica em Lisboa, ensinou na Universidade de Toronto (Canadá) e na Universidade de Indiana (EUA). É autor de vários livros e artigos sobre filosofia política e economia política, publicados em Portugal e nos Estados Unidos. Atualmente, prepara um livro sobre o tema da autoridade e também a edição portuguesa de Do Espírito das Leis, de Montesquieu. Seu livro Aristocracia e seus Críticos, produto da sua tese de doutoramento, já nasceu com vocação para clássico e é obra de interesse de todos que se debruçam sobre a filosofia política. Abordou um tema raro e difícil e o fez com muita maestria, sobre o qual farei a seguir alguns comentários, à guisa de apresentação.
Foi o mesmo Miguel Morgado quem traduziu o grande clássico de Leo Strauss, Direito Natural e História, livro para o qual escreveu uma introdução feita com rara competência, valorizando a obra do filósofo da Universidade de Chicago. Strauss pode ser considerado, sem nenhum favor, um dos maiores filósofos do século XX. É preciso entender o contexto da preocupação de Strauss: o que deu errado no Ocidente? Como as Grandes Guerras foram possíveis? Como Hitler pôde existir? Ao buscar respostas para essas grandes questões do seu tempo, Strauss, ele mesmo um fugitivo da Alemanha de Hitler, pegou o fio da meada. Juntamente com Eric Voegelin e e Michel Villey, este um pouco mais tarde, identificou a brusca mudança do sentido do que se chama de direito natural a causa primeira das grandes tragédias do século XX.
Lembrando que até o século XVI vigia a idéia, herdada de Platão e Aristóteles, do justo por natureza, e que acreditava-se que a ordem pública espelhava a realidade da ordem da alma individual. O direito natural era uma realidade objetiva, um direito objetivo. A politéia deveria ser buscada, por primeiro, na alma individual e o direito retirado da observação do homem em sociedade, de acordo com a lei natural. Essa visão será questionada inicialmente por Maquiavel e o farão inúmeros autores da época, mas sobretudo Grocius e Hobbes, e, a seguir, Locke. O direito natural passará a ser visto como direito subjetivo fundado na razão. A transformação foi brutal. Os autores modernos vão buscar nos filósofos da época helenista o suporte para suas teorias. Strauss identificou em Epicuro o pensador mais relevante a inspirar as tiranias do século XX. Terá sido esta talvez sua mais espetacular conclusão. Assim, Strauss se opõe radicalmente ao positivismo jurídico: "Rejeitar o direito natural é equivalente a dizer que todo direito é positivo, e isso significa que o direito é determinado exclusivamente pelos legisladores e pelos tribunais de diversos países". Vê-se que a modernidade desloca completamente o direito de qualquer fonte metafísica, passando a fundá-lo exclusivamente na razão. É a plenitude do humanismo que emergiu desde o Renascimento.
Strauss concentrou inicialmente suas críticas em três autores: Tomás de Aquino, Locke e Burke. Penso que sua crítica a Aquino pecou por dois lados: primeiro, porque entendeu que Aquino subordinou a filosofia à teologia, como se isso fosse um problema; segundo, porque não identificou, como o fez Michel Villey, nos nominalistas franciscanos, a verdadeira fonte da corrupção do pensamento filosófico cristão. De fato, o nominalismo será a matriz primeira do positivismo jurídico moderno e a primeira ruptura teórica com Aristóteles. Considero esse o ponto fraco do seu livro.
Strauss escreveu antes que os textos póstumos de Locke fossem dados a público, em 1952, quando se teve a prova definitiva de que ele adotou integralmente as teses de Hobbes, embora o tivesse negado nos livros publicado em vida. Mesmo assim, Strauss percebeu a ligação entre os dois. No parágrafo inicial Strauss citou a famosa passagem da Declaração de Independência dos EUA: "Consideramos que estas verdades são auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que todos são dotados pelo seu Criador de certos direitos iguais, entre os quais estão o direito à vida, à liberdade e à prossecução da felicidade". Esta Declaração não é mais cristã, mas integralmente estóico-epicuréia, e isso não escapou ao sagaz filósofo de Chicago. Como hóspede do país que o acolheu ele foi refinado ao abordar a tão "sagrada" declaração, sem dizer o que nela de fato está contido: é toda a modernidade no que ela tem de pior. Todos os homens são criados iguais? Nem como recurso retórico isso é um fato e um filósofo aristotélico, como Strauss, só poderia rir, no íntimo, dessa tolice.
Strauss critica duramente o positivismo sociológico de Max Weber, a quem dedica o segundo capítulo do livro. A tentativa de fazer ciência social isenta de valores é um dos caminhos que leva ao relativismo jurídico, tese que também será apresentada por Voegelin em sua obra. O primeiro capítulo é dedicado ao historicismo, de que é filho o ideal coletivista, o comunismo assim como o nazismo. Strauss lembra que "Não há direito natural se não houver princípios imutáveis de justiça". Sem estes a lei corrompida adquire a autoridade da lei natural, como vimos na Alemanha de Hitler. Ora, quando tudo cai no relativismo historicista desaparecem os princípios imutáveis e tudo é permitido, valendo a vontade arbitrária do governante. Deus desaparece. O historicismo é filho direto das idéias que brotaram de Hobbes, Locke e Rousseau. Nous x nomos, o velho duelo de Platão contra os sofistas, novamente revivido. Na modernidade há o triunfo dos segundos. Por isso que Epicuro toma o lugar que antes era de Platão e Aristóteles. O historicismo leva necessariamente ao niilismo.
Strauss também lembra que "todas as doutrinas clássicas do direito natural declaram que os fundamentos da justiça são, em princípio, acessíveis ao homem enquanto homem", fato negado pelo historicismo, baseado nos filósofos da época helenista. Por essa via Strauss demonstra o absurdo teórico que deriva da filosofia de Hegel, o pai do historicismo.
No capítulo terceiro o autor analisou os criadores do moderno direito natural, com ênfase em Locke e Hobbes (e Maquiavel). Poderia ter feito como Michel Villey e recuado alguns séculos, para demonstrar a importância do nominalismo e da escolástica tardia na degradação da filosofia cristã. Uma falha menor, considerando os propósitos da obra. Não se pode compreender o moderno direito natural subjetivo sem tomar o pensamento que lhe precedeu. Não houve um salto teórico desde a Antiguidade, de Epicuro, Zenon, Pirro e Cícero, até Locke, Hobbes e Rousseau. Mas entendo que a ênfase dada especialmente à ética e à política de Epicuro foi genialmente exposta e compreendida na sua plenitude. Strauss mostrou onde o desvio começou: no século XVI.
Interessante agora que passemos ao livro de Miguel Morgado, "A Aristocracia e seus Críticos". É um trabalho exaustivo e por ter origem acadêmica surpreende pela prosa agradável e fácil, não obstante a complexidade do tema abordado. Quanta erudição brota das suas páginas! O livro está divido em três partes: na primeira Morgado disseca o conceito de Aristocracia, na segunda toma os três principais autores modernos, que negam o regime aristocrático, Maquiavel, Locke e Hobbes; e, finalmente, a terceira parte, conclusiva, na qual analisa os Federalistas norte-americanos e sua preocupação com o governo republicano, a criação de um regime misto que tenha as virtudes aristocráticas conjuntamente com a representatividade permitida pela ordem democrática. Essa questão teórica é da maior relevância e persiste até o presente momento, sobretudo agora que caminhamos para o que Miguel Morgado chamou de "unidades de soberanias", a gênese do governo mundial que está no horizonte.
Morgado começa sua análise com os filósofos clássicos, que desde a origem enxergaram as três formas puras de regimes políticos: a monarquia, a aristocracia e a democracia e suas variação degeneradas: a tirania, a oligarquia e a oclocracia. Sua narrativa, curiosamente, inicia-se com o debate entre Thomas Jefferson e John Adams sobre o pensar a aristocracia como regime ideal. A aristocracia, no dizer de Jefferson, é a nobreza em geral, demonstrando que nenhum teórico ou homem de Estado pode dispensar a elaboração teórica do governo dos melhores.
Não sem razão Morgado diz que "A Revolução francesa é um momento histórico fundamental a partir do qual o homem europeu se sentiu autorizado a viver na história". E, a seguir, o problema fundamental: "O sucesso da corrente da democracia coloca-nos apenas perante uma escolha entre o regime democrático, por um lado, e tiranias mais ou menos opressiva, por outro, que definidas cada vez mais como negações da democracia vigente no Ocidente, isto é, a democracia liberal". O elo entre as duas obras salta aos olhos. O direito natural clássico corrobora o ideal do regime político pensável da aristocracia, tida como o melhor de todos, vez que neste regime o poder estaria com os mais virtuosos e a coletividade a ele subordinada voluntariamente, por ver nos governantes pessoas egrégias. Não pode haver formas puras de aristocracias sem a vigência do direito natural como os clássicos o compreendiam. Nem mesmo formas mistas com preponderância aristocrática.
O livro de Miguel Morgado é o explorar, às minúcias, desse tema, mostrando que os grandes pensadores, como os Constitucionalistas norte-americanos, jamais perderam de vista o ideal clássico, ainda que trabalhassem sob a inspiração do jus naturalismo moderno. Miguel mostrou que o regime republicano é essa forma mista que garante, a um só tempo, a legitimidade da democracia e a escolha dos melhores para o governo, ficando o ato de governar longe das massas, entre os períodos eleitorais.
A discussão é muito atual, vez que, como regime pensável, como ideal buscado, temos hoje não a aristocracia, mas a "verdadeira" democracia, mais das vezes confundida com a democracia direta. E temos também a tática dos partidos de esquerda, tão em voga no Brasil e nos EUA, de cativar a multidão com promessas de benesses, em troca dos votos para de manter perenemente no poder. O ato de governar, assim, deixou de ficar longe do nível ínfimo das massas, para tentar permanentemente atender a todos os seus apetites.
Morgado defende a forma mista como a ideal para as democracias modernas, enquanto antídoto para o despotismo. Nota que "Apesar de tudo, a democracia contemporânea permanece mista sem que os seus cidadãos lhe retirem legitimidade, bem pelo contrário".
Em conclusão, Morgado afirmou que "Os cidadãos democráticos querem viver na igualdade e a democracia não reconhece nenhuma desigualdade essencial entre eles... A realização dos valores democráticos pressupõe a utilidade da hierarquia". Isso me levou a pensar que o chamado regime misto que ora vigora pode não se manter porque o direito natural clássico foi abandonado. A ameaça totalitária ronda. A realidade da supertributação, o excesso de regulação, mesmo a unidade das soberanias, tudo ameaça a igualdade almejada, aquela diante da lei. O ato de governar está cada vez mais condicionado pelas multidões. Vivemos mesmo uma forma de oligarquia burocrática, que se espalha pelo mundo.
Miguel Morgado fechou o livro de forma otimista. Não posso partilhar desse sentimento.



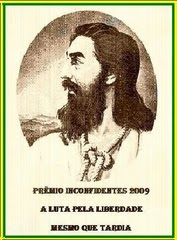






Nenhum comentário:
Postar um comentário