Movimento Endireitar
Escrito por Henry Hazlitt
Ter, 10 de Fevereiro de 2009 00:00
Este livro analisa as falácias econômicas que, de tão prevalecentes, se tornaram uma nova ortodoxia. Não há um único governo em qualquer dos principais países do mundo que não seja influenciado por algumas dessas falácias.
Talvez a forma mais curta e certa de entender economia seja a dissecação desses erros, em particular do erro central do qual decorrem todos os demais. Essa é a hipótese deste livro e de seu título ambicioso e beligerante, cujo objetivo não é expor os erros de algum autor em particular, mas os erros econômicos que ocorrem em sua forma mais freqüente, mais difundida ou mais influente.
3. AS BÊNÇÃOS DA DESTRUIÇÃO
4. OBRAS PÚBLICAS SIGNIFICAM IMPOSTOS
5. OS IMPOSTOS DESENCORAJAM A PRODUÇÃO
6. O CRÉDITO DESVIA A PRODUÇÃO
8. ESQUEMAS DE DIFUSÃO DO TRABALHO
10. O FETICHE DO PLENO EMPREGO
11. QUEM É “PROTEGIDO” PELAS TARIFAS?
13. PREÇOS MÍNIMOS
15. COMO FUNCIONA O SISTEMA DE PREÇOS
17. TABELAMENTO DE PREÇOS PELO GOVERNO
18. AS CONSEQÜÊNCIAS DO CONTROLE DE ALUGUÉIS
19. SALÁRIO MÍNIMO
20. OS SINDICATOS AUMENTAM OS SALÁRIOS?
21. O PREÇO “JUSTO”
24. O ASSALTO À POUPANÇA
A economia é assediada por mais falácias que qualquer outro ramo de conhecimento. Isso não é um acidente. As dificuldades inerentes ao objeto já seriam grandes o suficiente se não fossem multiplicadas por um fator que é insignificante na física, matemática ou medicina — os interesses egoístas. Embora cada grupo tenha certos interesses econômicos idênticos aos dos demais grupos, cada um tem também interesses antagônicos aos dos demais grupos. E, se certas políticas econômicas beneficiariam no longo prazo a todos, outras políticas beneficiariam somente um grupo, às expensas dos demais. O grupo que se beneficiaria dessas políticas, tendo um interesse direto nelas, vocalizaria seu apoio de forma plausível e persistente.
Além dos argumentos relacionados ao interesse próprio, há uma tendência de se ver apenas os efeitos imediatos de uma dada política ou seus efeitos somente sobre um grupo em particular, deixando de averiguar quais serão os efeitos de longo prazo dessa política sobre aquele grupo em particular e sobre todos os demais. É a falácia de menosprezar os efeitos secundários. Nisso talvez resida toda a diferença entre a boa e a má economia. O mau economista vê apenas o que está diante de seus olhos; o bom economista olha também ao seu redor.
Talvez pareça elementar a precaução de averiguar as conseqüências de uma certa ação sobre todos. Contudo, quando entramos no campo das políticas públicas essa verdade é ignorada. Há pessoas consideradas economistas brilhantes que condenam a poupança e recomendam o esbanjamento como salvação econômica; e, quando alguém aponta as conseqüências de longo prazo dessas políticas, respondem: “No longo prazo estaremos todos mortos”.
Partindo, portanto, das conseqüências de longo prazo pode-se resumir toda a economia em uma única lição, e pode-se reduzir essa única lição a uma única frase: a arte da economia consiste em considerar não só os efeitos imediatos de qualquer política, mas também os mais remotos; está em descobrir as conseqüências dessa política não somente para um único grupo, mas para todos eles.
Enunciamos a natureza da lição e das falácias que se interpõem no caminho, em termos abstratos. Passamos agora a ilustrar a lição com exemplos.
Comecemos com o exemplo mais simples possível: escolhemos, imitando Bastiat, uma vitrine quebrada.
Um moleque atira um tijolo numa vitrine de padaria. Junta-se gente, e logo todos lembram a si próprios e ao padeiro que, afinal, a desventura tem um lado positivo: resultará em negócio para algum vidraceiro. Quanto custará uma vidraça nova? Cem reais? Afinal, se nunca se quebrassem as vidraças, o que aconteceria com o negócio de vidros? E assim, levando adiante o raciocínio, o problema não teria fim. O vidraceiro terá cem reais a mais para gastar com seus fornecedores, e assim por diante, até o infinito. A vidraça quebrada proporcionará dinheiro e emprego em círculos cada vez maiores.
A conclusão lógica é que o moleque, em lugar de ser uma ameaça, foi um benfeitor público. A multidão, naturalmente, está certa em reconhecer que o ato de vandalismo trouxe mais negócios, no primeiro instante, para algum vidraceiro. Porém, o padeiro ficou sem os cem reais que pretendia gastar com um terno novo. Como tem que substituir a vidraça quebrada, ficará sem o terno; em lugar de uma vidraça e um terno, terá agora somente uma vidraça.
Em suma, o que o vidraceiro ganhou nesse negócio representa somente o que o alfaiate perdeu. Nenhum “emprego” novo foi criado. As pessoas naquela multidão estavam apenas pensando em dois elementos da transação: o padeiro e o vidraceiro.
Esqueceram a terceira pessoa em potencial envolvida: o alfaiate. Verão, daí a um ou dois dias, a nova vitrine. Nunca verão o terno extra, exatamente porque ele nunca será confeccionado. Vêem apenas o que está imediatamente diante de seus olhos.
3. AS BÊNÇÃOS DA DESTRUIÇÃO
A falácia da vitrine quebrada, sob uma centena de disfarces, é a mais persistente na história da economia. Sob as mais variadas formas, todos eles enfatizam as vantagens da destruição.
Embora alguns deles não cheguem a dizer que há ganhos líquidos em pequenos atos de vandalismo, vêem benefícios quase intermináveis nas destruições de grande porte.
Afirmam que estamos economicamente melhor na guerra que na paz. E vêem o mundo prosperar graças ao atendimento de uma enorme demanda “acumulada” ou “insatisfeita”.
Trata-se da falácia da vitrine destruída com novas roupagens. Os que pensam que a destruição traz progresso confundem necessidade com demanda. Quanto mais a guerra destrói, quanto mais ela empobrece, maior a necessidade no pós-guerra. Mas necessidade não é o mesmo que demanda. A demanda efetiva econômica compreende não somente a necessidade, mas também o correspondente poder aquisitivo.
Além disso, há também a falácia de pensar o “poder aquisitivo” somente em termos monetários. Mas o dinheiro hoje é fabricado pela tipografia; quanto mais moeda for emitida, mais se reduzirá o valor de cada unidade monetária, medida essa redução pelo aumento dos preços das mercadorias. Como, porém, a maioria das pessoas tem o hábito arraigado de pensar em termos monetários, consideram-se em melhor situação à medida que o valor monetário de seus rendimentos e bens aumenta, a despeito de que, em termos reais, possuam menos e comprem menos. A maioria dos resultados econômicos “benéficos” que o povo atribui à guerra é, na realidade, devida à inflação dos tempos de guerra. Poderiam igualmente ser produzidos pela inflação em tempos de paz.
Ora, existe uma meia verdade na falácia da demanda “insatisfeita”, do mesmo modo como ocorria na da vitrine quebrada. A vitrine quebrada proporcionou mais emprego para o vidraceiro; a destruição de casas e cidades incentivou as construtoras e fábricas de material de construção, motivada pela necessidade da reconstrução.
Para a maioria das pessoas isso parecerá um aumento na demanda total. Mas o que realmente aconteceu foi um desvio da demanda de outras mercadorias para essas.
Sempre que os negócios aumentam em uma só direção reduzem-se, forçosamente,
Isso é inevitável, porque a demanda e a oferta são dois lados da mesma moeda. A oferta cria demanda porque no fundo é demanda. A oferta das coisas que um povo fabrica é, de fato, tudo o que ele tem para oferecer em troca dos artigos que deseja.
Nesse sentido, a oferta de trigo pelos fazendeiros constitui sua demanda de automóveis e outros bens. Tudo isso é inerente à moderna divisão do trabalho e a uma economia de trocas.
4. OBRAS PÚBLICAS SIGNIFICAM IMPOSTOS
Não existe crença mais persistente e mais influente que a de que os gastos governamentais são uma panacéia para todos os males econômicos. Uma literatura considerável baseia-se nessa falácia, e ela tornou-se parte de uma complexa rede de falácias que se apóiam mutuamente.
O mundo está saturado de pseudo-economistas cheios de planos para obter alguma coisa por nada. Dizem-nos que o governo pode gastar sem tributar; que pode continuar a acumular dívidas sem jamais as liquidar, porque “devemos a nós mesmos”. Devaneios dessa natureza foram sempre interrompidos pela insolvência nacional ou por uma inflação galopante. A própria inflação não passa de uma forma anormal de tributação.
É claro que é sempre necessário um valor mínimo de despesa pública para que o governo desempenhe suas funções essenciais. Determinadas obras públicas — ruas, estradas, pontes, túneis, bem como a polícia e os bombeiros — são necessárias para prestar os serviços essenciais. Mas há outro tipo de obras públicas feitas para “dar emprego” ou aumentar a riqueza da comunidade que vale a pena examinar.
Constrói-se uma ponte. Se ela é construída para resolver um problema de tráfego ou de transporte não haveria qualquer objeção a que ela fosse custeada pela tributação. Mas se a finalidade da ponte é “dar emprego”, o tráfego e o transporte tornam-se secundários.
O emprego é o que se vê de imediato. É verdade que determinado grupo de construtores recebe mais ocupação, o que não ocorreria, não fosse a ponte. Esta, porém, deve ser paga com os impostos, pois todo o dinheiro gasto tem que ser tirado dos contribuintes. Portanto, para cada emprego público, criado pelo projeto da ponte, fica destruído, em algum lugar, um emprego privado. Podemos ver os operários empregados na construção da ponte. Há, entretanto, outras coisas que não vemos porque, infelizmente, não se permitiu que surgissem. São os empregos destruídos pelo dinheiro tomado dos contribuintes. Na melhor das hipóteses, ocorreu uma transferência de empregos em decorrência do projeto.
Quando se trata de grandes projetos, o perigo da ilusão de ótica é ainda maior. Uma termoelétrica, por exemplo, eleva toda uma região ao mais alto nível econômico. Atraem-se indústrias, que de outra forma não existiriam. E tudo é apresentado como um ganho econômico líquido, sem custos.
Mas se impostos são arrecadados das pessoas e das empresas e gastos em uma particular região do país, por que deveríamos nos surpreender se aquela região se tornar comparativamente mais rica? Outras regiões do país, deveríamos lembrar, se tornam comparativamente mais pobres. O projeto tão grande que “o capital privado não poderia ter executado” foi de fato feito pelo setor privado — pelo capital que foi expropriado pelos impostos (ou, se o dinheiro foi obtido com empréstimos, deverá ser pago eventualmente com impostos).
Para os projetos públicos a utilidade é secundária; e quanto mais desperdiçador melhor, do ponto de vista do emprego. Sob esse ponto de vista é altamente duvidoso que os projetos criados pelos burocratas causem o mesmo aumento de riqueza, por real gasto, que os projetos dos próprios contribuintes, caso pudessem investir em lugar de ter parte de seus rendimentos expropriados pelo Estado.
5. OS IMPOSTOS DESENCORAJAM A PRODUÇÃO
Existe ainda outro fator que torna improvável que a riqueza criada pela despesa do governo seja completamente compensada pela riqueza destruída pelos impostos. O governo nos diz, por exemplo, que somente 40% da renda nacional estão sendo transferidos de fins privados para fins públicos. Mas esses órgãos do governo se esquecem de que estão tirando dinheiro de A para pagar B. E enquanto discorrem sobre os benefícios do processo para B, esquecem-se dos efeitos dessa transferência sobre A. B é visto; A é esquecido.
A incidência dos impostos é também desigual, já que a mesma porcentagem do imposto de renda não se aplica a todos. A incidência maior recai sobre pequena porcentagem dos rendimentos da nação; e a receita desse imposto é suplementada por impostos de outra natureza. Impostos sempre afetam as ações e os incentivos daqueles de quem são extraídos. Quando uma empresa perde cem centavos por real que perde e somente pode reter 60 centavos por real que ganha, e quando não pode compensar os seus anos de perda contra os anos de ganho, sua políticas são afetadas. Ela deixa de expandir as suas operações, ou expande somente aquelas com um mínimo de risco. As pessoas que percebem essa situação deixam de criar novas empresas e novos empregos; e outros simplesmente decidem não se tornar empregadores. A longo prazo, os consumidores deixam de ter produtos melhores e mais baratos e não há melhoria no salário real.
Um certo montante de impostos é naturalmente indispensável para custear as funções essenciais do governo. Mas quanto maior a porcentagem da renda do povo subtraída sob a forma de impostos e quando a carga tributária vai além do suportável, tornam-se intransponíveis os obstáculos à produção privada e ao emprego.
6. O CRÉDITO DESVIA A PRODUÇÃO
Tanto o “encorajamento” do governo aos negócios quanto sua hostilidade devem às vezes ser temidos. Este suposto encorajamento quase sempre assume a forma de concessão direta de créditos governamentais ou de garantia de empréstimos privados. A proposta mais freqüente dessa espécie é a de concessão de mais crédito para os agricultores. Aos olhos do governo, o crédito ofertado pelo sistema financeiro privado não é nunca “suficiente”.
A fé nessas políticas advém de dois atos de imprevisão. Um é encarar a questão apenas do ponto de vista dos agricultores, que tomam dinheiro emprestado. O outro está em pensar somente na primeira parte da transação.
Ora, aos olhos de pessoas honestas todos os empréstimos devem ser pagos. Todo crédito é débito. As propostas para o aumento do crédito são, portanto, propostas para o aumento do endividamento, e seriam menos atraentes se chamadas por esse nome. Esses empréstimos são de dois tipos: um destina-se a manter a colheita fora do mercado; o outro destina-se a financiar o capital — a terra e os equipamentos. À primeira vista há um forte argumento em favor desse segundo tipo de empréstimos. Temos aqui uma família pobre, sem meios de subsistência. Empreste-se dinheiro e permita-se que aumente a sua produtividade; o agricultor poderá pagar o empréstimo com a venda de sua colheita. O empréstimo é auto liquidável.
Há, no entanto, uma grande diferença entre os empréstimos das instituições privadas e públicas. Todo emprestador privado arrisca seus próprios recursos ou os recursos de terceiros sob sua gestão. Tende, nesse caso, a avaliar com mais cuidado os riscos e as garantias oferecidas. A razão para os empréstimos do governo é emprestar a quem não consegue obter empréstimos privados. Isto é, o governo tomará riscos com o dinheiro dos contribuintes que os emprestadores privados não estariam dispostos a tomar.
Observe-se o que está sendo emprestado não é propriamente dinheiro, mas capital — uma fazenda, por exemplo. A fazenda emprestada a A não pode ser emprestada a B. A questão é saber se é A ou B quem obterá a fazenda. Isso nos leva aos méritos de A e B e o que cada um contribui para a produção.
Há uma estranha idéia de que crédito é algo que o banqueiro dá a uma pessoa. Crédito, ao contrário, é algo que a pessoa já tem. Ela leva o crédito ao banco consigo; esta é a razão pela qual o banqueiro lhe faz um empréstimo. O banqueiro não está dando algo em troca de nada, mas está meramente trocando um ativo mais líquido por um menos líquido. Quando o banqueiro erra em sua avaliação não é somente o banqueiro que perde, mas toda a comunidade, já que os valores que se supunha que seriam produzidos pelo emprestador não se materializam, e os recursos se perdem.
Portanto, é A, que tem crédito, que receberia o empréstimo de um banqueiro privado. Mas aí o governo entra no negócio de empréstimos com caridosa disposição e empresta a B. A ficará privado de ter uma fazenda. A talvez seja forçado a desistir de ter uma, ou porque as taxas de juros subiram como resultado das operações do governo, ou porque, em virtude dessas operações, os preços das fazendas subiram. O resultado líquido das operações de crédito do governo não foi aumentar a riqueza produzida pela comunidade, mas reduzi-la, pois o efetivo capital disponível (constituído de fazendas, tratores, etc.) foi colocado em mãos de pessoas menos eficientes, em vez de ser destinado aos mais eficientes e dignas de confiança.
O caso torna-se ainda mais claro se passarmos das fazendas para outros ramos de negócios. Propõe-se freqüentemente que o governo assuma riscos “demasiado grandes para a indústria privada”. Significa isso que se deve permitir aos burocratas assumirem riscos com o dinheiro dos contribuintes, riscos que ninguém está disposto a assumir como seu. Tal política acarretaria males de muitas espécies, especialmente o favoritismo, pela concessão de empréstimos a amigos ou em troca de subornos.
Aumentaria a exigência de uma política socialista: se o governo vai arcar com os riscos, por que não receber também os lucros?
Em suma, não há como escapar de concluir que essa política desperdiçará capital e reduzirá a produção, já que colocará o capital escasso da sociedade em mãos dos mais ineficientes.
Entre as mais viáveis de todas as ilusões econômicas está a crença de que a máquina cria desemprego. Sempre que há prolongado desemprego em massa, é a máquina que leva a culpa. A crença de que as máquinas causam desemprego leva a conclusões ridículas. Não somente cada novo aperfeiçoamento tecnológico causa desemprego, como o processo foi iniciado quando o homem primitivo fez os primeiros esforços para poupar para si trabalho e esforço inúteis.
Consideremos o que disse Adam Smith em A riqueza das nações, publicado em 1776. O primeiro capítulo intitula-se “Da divisão do trabalho”; na segunda página desse primeiro capitulo o autor nos conta que um operário não familiarizado com o uso da máquina utilizada numa fábrica de alfinetes “dificilmente faria um alfinete por dia e certamente não poderia fazer vinte”. Mas com o uso dessa máquina ele pode fazer 4.800 alfinetes por dia. Assim, já no tempo de Adam Smith a máquina havia posto fora de trabalho
Certamente sim, já que a Revolução Industrial mal começava. A oposição às máquinas seria racional se somente o futuro imediato fosse considerado. Dos 50 mil tecelões de meias ingleses, poucos escaparam da fome e da miséria nos 40 anos que se seguiram à introdução das máquinas. Mas a crença de que as máquinas deslocariam permanentemente os operários não se revelou verdadeira. No final do século XIX, a indústria de meias estava empregando cem homens para cada operário que empregava no início do século. O mesmo ocorreu na Grande Depressão da década de 1930. Se de fato fosse verdade que a introdução da máquina que poupa mão-de-obra é uma permanente causa do crescente desemprego e da miséria, todo progresso técnico seria, portanto, não somente inútil, mas também prejudicial. Teorias falsas como essas não têm consistência lógica, mas são perniciosas só pelo fato de serem aceitas. Vejamos, portanto, o que acontece quando se introduzem aperfeiçoamentos técnicos e máquinas que poupam mão-de-obra — tendo em mente que nem todos os avanços tecnológicos desempregam mão-de-obra.
Suponhamos que um fabricante de roupas instale uma máquina que permite dispensar metade dos empregados. Isso, à primeira vista, parece evidente desemprego. Mas a própria máquina exigiu trabalho para ser construída, criando empregos que, de outra forma, não existiriam. Contudo, há ainda uma perda líquida de emprego a contabilizar e, nesse ponto, parece que os trabalhadores tiveram uma perda líquida de emprego e o fabricante de roupas mais lucros que anteriormente. Mas é precisamente desse lucro extra que se originam os ganhos sociais subseqüentes. O lucro extra ou será usado (1) para expandir as suas operações, comprando mais máquinas para produzir mais casacos; ou (2) será investido em outra empresa; ou (3) será gasto em aumento do consumo. Em qualquer das três opções estará indiretamente criando tantos empregos como os que cessou de dar diretamente.
Em suma e tudo bem pesado, as máquinas, os aperfeiçoamentos tecnológicos, a automação e a eficiência não deixam os homens sem trabalho.
8. ESQUEMAS DE DIFUSÃO DO TRABALHO
Os sindicatos operários em várias partes do mundo procuram obrigar as empresas a empregar mais através de esquemas de redução da jornada de trabalho. Tais práticas, e a tolerância do público para com elas, originam-se da mesma falácia fundamental que é o temor das máquinas. É a crença de que um processo mais eficiente de produção destrói empregos, e seu corolário natural, de que um processo menos eficiente os cria.
Aliada a essa falácia está a crença de que existe apenas uma quantidade fixa de trabalho a ser feito no mundo e que, se não podemos aumentá-la, inventando processos mais complicados de produção, podemos, pelo menos, pensar nos meios de difundi-los pelo maior número possível de pessoas.
Um dos esquemas mais comuns é a proposta de reduzir a semana de trabalho, geralmente por meio de lei, baseado na crença de que isso“difundiria o trabalho” e “criaria mais empregos”. Qual o verdadeiro efeito de tais planos?
Consideremos primeiro o caso em que a semana de trabalho seja reduzida de quarenta para trinta horas, sem modificação no salário-hora. Embora um número maior de operários esteja empregado, cada um estará trabalhando menor número de horas e não haverá, portanto, nenhum aumento líquido
O que ocorrerá se os líderes sindicais demandarem um aumento do salário-hora de forma a compensar a perda de rendimento de seus associados? A primeira e mais óbvia conseqüência será a elevação dos custos de produção. A segunda, um nível de desemprego também maior. As empresas menos eficientes serão eliminadas e os operários menos eficientes perderão o emprego. O desemprego será maior que anteriormente.
Os esquemas de “difusão do trabalho”, em resumo, apóiam-se na mesma espécie de ilusão por nós já considerada. As pessoas que os defendem pensam apenas no emprego que eles proporcionariam a determinadas pessoas ou grupos; não chegam a considerar qual seria o efeito completo sobre todo mundo.
Quando, depois de cada grande guerra, é feita a desmobilização das forças armadas, existe sempre o grande receio de que não haja número suficiente de empregos para absorvê-los. O receio do desemprego surge porque as pessoas encaram o processo somente sob um único aspecto.
Vêem soldados desmobilizados entrarem no mercado de trabalho. Onde está o “poder aquisitivo” para empregá-los? Se o orçamento público está equilibrado, a resposta é simples. O governo deixará de sustentar esses soldados. Os recursos retornarão aos contribuintes que, com eles, comprarão bens adicionais. A demanda dos civis aumentará e dará emprego aos soldados desmobilizados.
O mesmo raciocínio aplica-se aos funcionários civis do governo sempre que são mantidos em número excessivo e não executam serviços para a comunidade equivalentes à remuneração que percebem. No entanto, sempre que se faz qualquer esforço para reduzir o número de funcionários desnecessários é certa a grita que se levanta, afirmando que esse ato é “deflacionário”.
Mais uma vez a falácia resulta do fato de serem encarados os efeitos deste ato somente sobre os funcionários demitidos e sobre determinados empresários que dele dependem. Mais uma vez nos esquecemos de que se esses burocratas não forem mantidos nos cargos, os contribuintes conservarão o dinheiro que, anteriormente, lhes fora tirado para sustentar os funcionários. Novamente nos esquecemos de que o rendimento e o poder aquisitivo dos contribuintes se elevam da mesma forma que o dos antigos funcionários se reduz.
Quando não podemos encontrar um argumento melhor para a manutenção de qualquer grupo de funcionários que o de manter o poder aquisitivo deles, é sinal de que chegou o momento de nos desembaraçarmos dessas pessoas.
10. O FETICHE DO PLENO EMPREGO
O objetivo econômico de qualquer nação, como de qualquer indivíduo, é obter os melhores resultados com o mínimo de esforço. Todo o progresso econômico da humanidade consiste em obter maior produção com o mesmo trabalho. Traduzido em termos nacionais, esse primeiro princípio significa que nosso verdadeiro objetivo é maximizar a produção. Fazendo isso, o pleno emprego — isto é, a ausência de ociosidade involuntária — torna-se subproduto necessário. Não podemos, continuamente, ter a máxima produção sem pleno emprego. Mas podemos muito facilmente ter pleno emprego sem a plena produção.
Nada mais fácil que conseguir o pleno emprego, desde que esteja divorciado do objetivo da plena produção e considerado, em si, como um fim. Nossos legisladores, no entanto, não apresentam no Congresso projetos de lei para produção plena, e sim para pleno emprego. Salários e emprego são discutidos como se não tivessem qualquer relação com produtividade e produção. Em toda parte constrói-se o meio para o fim, e o próprio fim é esquecido.
Podemos esclarecer nosso pensamento se colocarmos nossa principal ênfase no lugar em que deve estar — na política que maximizará a produção.
11. QUEM É “PROTEGIDO” PELAS TARIFAS?
Uma simples exposição das políticas econômicas dos governos, em todo o mundo, é de causar desespero a qualquer pessoa que estude seriamente economia. Desde que apareceu, há 175 anos, A riqueza das nações, o livre comércio foi discutido milhares de vezes, mas talvez nunca com mais direta simplicidade e orça do que naquela obra. Smith apoiava sua tese numa proposição fundamental: “Em todo país, sempre é e deve ser do interesse da grande massa do povo comprar tudo o que deseja daqueles que vendem mais barato”. “Esta afirmação é tão evidente — continuou Smith — que parece ridículo dar-se ao trabalho de prová-la; nem seria jamais suscitada não houvesse o sofisma de negociantes e fabricantes interessados, que confundem o senso
comum da humanidade”.
Mas o que levou as pessoas a suporem que o que era prudência na conduta de toda família poderia ser loucura na de um grande reino? Foi toda uma rede de falácias, da qual a humanidade ainda não pode desvencilhar-se. E a principal delas é a falácia fundamental de que trata este livro — a de considerar somente os efeitos imediatos de uma tarifa sobre determinados grupos e esquecer seus efeitos a longo prazo sobre toda a comunidade.
Um fabricante pede ao governo proteção contra as importações sob a forma de uma tarifa aduaneira que equalize o preço do concorrente importado ao do produto nacional; não argumenta em causa própria, mas de seus empregados. Se puder provar que será forçado a abandonar o mercado se a tarifa não for imposta, seus argumentos serão considerados conclusivos pelo governo.
Mas a falácia está em considerar apenas esse fabricante e seus empregados, ou apenas o setor industrial específico. Está em observarem-se apenas os resultados imediatos vistos e descuidar daqueles que não são vistos, porque estão impedidos de surgir.
Suponhamos que uma determinada indústria, já existente, seja protegida por uma determinada tarifa. Revoga-se a tarifa: o fabricante abandona o mercado e os operários são dispensados. Esse é o resultado imediato que se vê. Mas há outros resultados que, embora mais difíceis de perceber, não são menos imediatos nem menos reais. O produto concorrente importado agora está disponível aos consumidores a um preço menor. O ganho de renda pode ser usado para comprar outros produtos nacionais, aumentando o emprego em outros setores industriais.
Mas os resultados não param aí. Ao importarem o produto, os consumidores estão pagando aos produtores estrangeiros dólares para que possam adquirir mercadorias nacionais. Pelo fato de termos permitido aos estrangeiros vender-nos mais, permitimos que eles comprem mais de nós. Tudo considerado, o fato é que o emprego não se reduziu em nosso país, e tanto nós como o país estrangeiro aumentaram sua produção. A mão-de-obra está mais plenamente empregada nos dois países, produzindo de maneira mais eficiente que anteriormente; consumidores em ambos os países estão em melhor situação do que antes da eliminação da tarifa.
A tarifa foi apresentada como um meio de beneficiar o produtor às expensas do consumidor. Em certo sentido está certo. Os que são a favor dela pensam apenas nos interesses dos produtores beneficiados pela tarifa. Esqueceram-se dos interesses dos consumidores, que ficam prejudicados por serem forçados a pagar estes direitos. Mas as tarifas não beneficiam todos os produtores, somente os protegidos por ela. Prejudicam os consumidores e especialmente os exportadores nacionais. O efeito de uma tarifa, portanto, é modificar a estrutura da produção. Aumentam as indústrias que são relativamente ineficientes e reduzem aquelas que são relativamente eficientes. Seu efeito líquido é, portanto, a redução da eficiência no país. Com isso, a longo prazo reduz o salário real ao reduzir a eficiência, a produção e a riqueza.
Somente o medo patológico de importar, que afeta todas as nações, excede o desejo ardente e patológico de exportar. Logicamente nada poderia ser mais inconsistente. A longo prazo, a importação e a exportação (apropriadamente definidas) devem igualar-se. É a exportação que paga a importação, e vice-versa. Quando decidimos aumentar a exportação estamos também decidindo aumentar a importação.
A razão disso é simples. Um exportador brasileiro vende para um importador americano e é pago
13. PREÇOS MÍNIMOS
O argumento em favor de preços mínimos (de “paridade”) para os produtos agrícolas é mais ou menos o seguinte: a agricultura é básica e a mais importante de todas as atividades econômicas. Deve ser preservada a todo custo. Além disso, a prosperidade de todos depende da prosperidade do agricultor. Se ele não tiver poder aquisitivo para comprar os produtos da indústria, esta definhará.
O argumento fundamental que aqui nos interessa é o seguinte: se obtiver preços mais altos para seus produtos, o agricultor poderá comprar mais produtos da indústria e assim torná-la próspera e proporcionar pleno emprego. Não importa nesse argumento, é claro, se o fazendeiro obtém ou não o denominado preço de paridade.
As ante-salas do governo estão repletas de representantes do ramo de atividade X. Ele está enfermo. Está morrendo. Precisa ser salvo. Somente poderá salvar-se por uma tarifa, através de preços mais altos ou mediante um subsídio. Se consentirmos em sua morte, trabalhadores irão para a rua. Os proprietários de suas casas, o supermercado, as lojas e os cinemas locais perderão negócios, e a depressão se espalhará em círculos cada vez maiores.
É óbvio que isso nada mais é que uma simples forma generalizada do que acabamos de considerar. Nela, a indústria X era a agricultura. Há, entretanto, um número infindável de indústrias X.
Dado esse fato, existem sempre inúmeros esquemas para salvar indústrias. Há dois tipos principais de tais propostas. Uma, é afirmar que a indústria X está “superlotada” e procurar impedir que outras firmas ou outros trabalhadores nela ingressem através de uma reserva de mercado. Outra, é o argumento de que a indústria X precisa ser amparada, diretamente, por meio de subsídio governamental.
Ora, se o ramo de atividade X, comparado aos outros, está realmente “superlotado”, não necessitará de legislação coercitiva para impedir que novos capitais ou novos trabalhadores nele ingressem. Novos capitais não costumam precipitar-se para indústrias que estejam definhando.
Se novos capitais e nova mão-de-obra são mantidos à força fora da indústria X, por meio de monopólios, cartéis, união sindicalista ou legislação, isso priva os capitais e a mão-de-obra da livre escolha. Força os investidores a colocarem seu dinheiro onde os dividendos lhes pareçam menos promissores que na indústria X. Perdida a oportunidade de investir em segmento de maior rentabilidade, reduz-se a produção, com reflexo num padrão de vida mais baixo.
Idênticos resultados se seguiriam a qualquer tentativa para salvar a indústria X através de subsídio direto, tirado do erário público. Os contribuintes e as demais indústrias perderiam, precisamente, tanto quanto o pessoal da indústria X ganharia. O resultado é que também (e é daí que vem a perda líquida para a nação considerada como um todo) o capital e o trabalho da mão-de-obra são desviados de indústrias nas quais estão mais eficientemente empregados para uma indústria na qual serão menos eficientemente empregados. Cria-se menos riqueza. O padrão de vida médio torna-se mais baixo, comparado com o que teria sido.
15. COMO FUNCIONA O SISTEMA DE PREÇOS
Como deverá ser solucionado o problema de alocar trabalho e capital a fim de atender às milhares de necessidades diferentes da sociedade? Deverá, precisamente, ser solucionado pelo sistema de preços. Soluciona-se através das constantes modificações nas inter-relações de custo de produção, preços e lucros.
Fixam-se os preços mediante a relação entre oferta e demanda. Quando as pessoas desejam uma maior quantidade de um bem, oferecem mais por ele. O preço sobe. Aumentam os lucros dos fabricantes. Havendo agora maior lucro na fabricação desse bem que na de outros artigos, quem já se encontra nesta atividade expande sua produção e outras pessoas são atraídas para este setor. Esse aumento da oferta reduz então o preço e a margem de lucro até que esta margem de lucro alcance o nível geral de lucros das outras indústrias. Ou, então, a demanda do artigo pode cair; ou, talvez, haja prejuízo
Os preços, portanto, são determinados pela oferta e pela procura, e a procura é determinada pela intensidade das necessidades dos consumidores e pelo que estes têm para oferecer em troca. É verdade que a oferta é, em parte, determinada pelo custo de produção. O que o artigo custou no passado, para ser produzido, não pode determinar-lhe o valor, que dependerá da atual relação entre oferta e a procura. Mas as expectativas dos homens de negócios, no tocante ao que um artigo irá custar em sua fabricação futura e qual será o seu preço futuro, determinaram quanto dele será fabricado. Há, portanto, uma tendência constante para o preço de um artigo e seu custo marginal de reprodução se igualarem, mas não porque esse custo marginal de produção determina diretamente o preço.
Muitos perguntam: por que os empresários não produzem até a “plena capacidade dos processos técnicos modernos”? Ora, numa economia em equilíbrio, determinada indústria poderá expandir-se somente às expensas de outras, pois a qualquer momento os fatores de produção são limitados. Uma indústria somente pode expandir-se desviando para si mão-de-obra, terreno e capital, que poderiam ser empregados em outras indústrias. E quando uma indústria se contrai ou deixa de expandir sua produção isso não significa necessariamente que ocorreu um declínio líquido na produção agregada. A contração, nesse ponto, talvez possa ter simplesmente liberado trabalho e capital, a fim de permitir a expansão de outras indústrias. É errôneo, portanto, ver em uma redução na produção de determinado setor uma diminuição da produção total. Segue-se que, para a saúde de uma economia dinâmica, é tão essencial deixar que pereçam as indústrias moribundas, como deixar que cresçam as indústrias prósperas, pois as indústrias agonizantes absorvem mão-de-obra e capital que deveriam ser liberados para as indústrias em expansão.
Tentativas para elevar de forma permanente os preços de determinadas mercadorias acima dos níveis naturais de mercado têm fracassado tantas vezes, de modo tão desastroso e tão notório, que grupos requintados de pressão, e os burocratas sobre os quais eles atuam, raramente confessam com franqueza esse objetivo. Afirmam apenas que o produto está, naquele momento, sendo vendido por preço muito abaixo do nível natural. A menos que se aja prontamente, serão os produtores expulsos do mercado. Tudo o que realmente se deseja fazer é corrigir essas violentas e loucas flutuações de preços. Não se está procurando elevá-lo, mas apenas estabilizá-lo.
Considerem-se os produtores de trigo. Mesmo que os fazendeiros tivessem que lançar toda a produção no mercado em um único mês do ano o preço não seria necessariamente inferior ao de qualquer outro mês, pois os especuladores, na esperança de obter lucro, fariam a maior parte de suas compras nessa ocasião. Continuariam comprando, até que o preço subisse a um ponto em que não vissem mais oportunidades de lucro futuro. O resultado seria estabilizarem-se os preços dos produtos agrícolas durante todo o ano.
É precisamente por existir uma classe profissional de especuladores para assumir esses riscos que os fazendeiros não têm necessidade de assumi-los. Poderão proteger-se através dos mercados. Em condições normais, portanto, quando os especuladores estão desempenhando bem sua tarefa os lucros dos fazendeiros dependerão de sua habilidade em atividades nas fazendas e não nas flutuações do mercado.
O caso é diferente, porém, quando o estado intervém ou comprando a produção dos fazendeiros ou emprestando-lhes dinheiro para armazenar as colheitas. Quando o governo intervém, o celeiro sempre normal torna-se, de fato, um celeiro sempre político. Encoraja-se o fazendeiro, com o dinheiro dos contribuintes, a reter excessivamente sua produção. Estoques excessivos ficam afastados do mercado. O efeito é assegurar, temporariamente, um preço mais alto; mas fazê-lo provocará mais tarde um preço muito mais baixo, pois a falta artificial que se cria nesse ano, ao retirar-se do mercado parte de uma colheita, implica excesso artificial para o ano seguinte.
Os partidários da política de restrições geralmente respondem que essa queda na produção é o que, de um modo ou de outro, acontece em uma economia de mercado. Há, entretanto, conforme vimos no capítulo precedente, uma diferença fundamental. Numa economia de mercado competitivo os produtores de custos elevados, os ineficientes, é que são postos à margem pela queda dos preços. Os mais capazes, os que trabalham nas melhores terras, não têm que restringir a produção. Pelo contrário, se a queda no preço foi sintoma de mais baixo custo médio de produção, refletido no aumento da oferta, então o afastamento dos fazendeiros marginais em terras marginais capacita os bons fazendeiros, nas terras boas, a expandirem sua produção.
17. TABELAMENTO DE PREÇOS PELO GOVERNO
Examinemos, agora, alguns dos resultados das tentativas do governo para manter os preços dos produtos abaixo dos seus níveis naturais no mercado.
Quando o governo procura fixar preços máximos para apenas poucos produtos que considera “necessários” fundamenta-se no fato de que é essencial que o pobre possa obtê-lo a custo “razoável”.
O argumento para tabelamento do preço desses produtos será mais ou menos o seguinte: se deixarmos, por exemplo, a carne à mercê do mercado livre a alta será forçada pela concorrência, de sorte que somente os ricos poderão adquiri-la. Os pobres não terão a carne na proporção de suas necessidades, mas apenas na proporção de seu poder aquisitivo. Se for mantido baixo o preço, todos terão o seu justo quinhão. Ora, não podemos manter o preço de qualquer mercadoria abaixo do preço do mercado sem que isso traga, com o tempo, duas conseqüências. A primeira é aumentar a procura da mercadoria. Sendo esta mais barata, as pessoas sentem-se tentadas a comprar mais, e podem fazê-lo. A segunda conseqüência é reduzir a oferta.
Se não fizéssemos mais nada, a fixação de um preço máximo para determinada mercadoria teria como conseqüência provocar sua falta. Isso, porém, é precisamente o contrário do que os controladores governamentais a princípio pretendiam fazer. Com o tempo, algumas dessas conseqüências se tornam evidentes para os controladores, que, então, adotam processos de controle numa tentativa de afastá-las. Entre esses processos figuram o racionamento, o controle do custo, os subsídios e o tabelamento geral. O tabelamento de preços poderá parecer, durante breve período, ter sido coroado de êxito. Entretanto, quanto mais tempo estiver em vigor, tanto mais aumentarão suas dificuldades. A conseqüência natural de um controle geral, visando perpetuar determinado nível histórico de preços, será uma economia inteiramente engessada. Cada um de nós, em síntese, pensa poder manobrar as forças políticas de modo a beneficiar-se mais com o subsídio, do que perde com o imposto, ou beneficiar-se com um aumento para seu produto (enquanto o custo da matéria-prima que usa está contido legalmente) e, ao mesmo tempo, beneficiar-se com o controle dos preços, como consumidor. A esmagadora maioria, entretanto, estará ludibriando-se a si mesmo, pois não só deve haver, pelo menos, perda e ganho idênticos nessa manobra política de preços como pode haver mais perda que ganho, porque o tabelamento desencoraja e desorganiza o emprego e a produção.
18. AS CONSEQÜÊNCIAS DO CONTROLE DE ALUGUÉIS
O controle de aluguéis de casas e apartamentos pelo governo é uma forma especial de controle de preços. As suas conseqüências são iguais às do controle de preços em geral, porém algumas exigem consideração especial.
O controle dos aluguéis é imposto, inicialmente, sob a alegação de que o suprimento de casas não é “elástico”, isto é, a crise de moradia não pode ser solucionada imediatamente. Em conseqüência, o governo, prevendo os aumentos de aluguéis, protege os inquilinos da extorsão e da exploração, imaginando não causar nenhum dano real aos proprietários e sem desencorajar novas construções.
O controle de aluguéis, todavia, discrimina em favor daqueles que já ocupam casas ou apartamentos, à custa daqueles que se encontram do lado de fora. Permitindo que os aluguéis aumentem de preço, aos níveis de mercado livre, permitir-se-á a todos os inquilinos, atuais ou potenciais, oportunidade igual na oferta de espaço.
Os efeitos do controle de aluguéis tornam-se piores quanto mais tempo continuar esse controle. Novas moradias não são construídas porque não há incentivos para construí-las, e as existentes se deterioram pela perda de interesse dos proprietários em conservá-las.
Sobrevivem apenas as moradias de “luxo”, usualmente fora do controle de aluguéis. Os efeitos, a longo prazo, desse artifício discriminatório são exatamente o oposto do que seus advogados pretendiam: os construtores e proprietários de apartamentos de luxo são incentivados e premiados, enquanto são desincentivados os construtores e proprietários
de moradias para as pessoas de baixa renda.
Quando os controles de preços e racionamentos são aplicados em artigos de consumo imediato, como pão, por exemplo, os padeiros podem simplesmente se recusar a continuar a fazer pão e vendê-lo. Obviamente, uma crise se instala de imediato, e os políticos são compelidos a abandonar o controle. Mas a moradia é muito durável. Pode levar muitos anos antes que os inquilinos comecem a sentir os resultados do desencorajamento de novas construções e de manutenção e reparos normais.
Assim, voltamos a nossa lição básica. A pressão para o controle de aluguéis vem daqueles que consideram apenas os benefícios imaginados a curto prazo, para um grupo da população. Mas quando consideramos seus efeitos a longo prazo sobre todos, incluindo os próprios inquilinos, reconhecemos que o controle de aluguéis não é somente fútil mas altamente destrutivo, quanto mais rigoroso for e quanto mais tempo permanecer como prática.
19. SALÁRIO MÍNIMO
O salário é um preço como outro qualquer. Qualquer tentativa de elevá-lo por decreto estará fadada ao fracasso. A primeira coisa que acontece, por exemplo, ao ser decretado que ninguém receberá menos que R$ 350 por semana de 40 horas é que qualquer pessoa cujo trabalho não vale R$ 350 por semana não será empregada.
Não se pode fazer com que alguém mereça receber determinada importância tornando ilegal o oferecimento de importância menor. Ele está simplesmente sendo privado do direito de ganhar a importância que suas aptidões e situação permitem ganhar; ao mesmo tempo, a comunidade está sendo privada dos modestos serviços que ele pode prestar. É, em suma, substituir o salário baixo pelo desemprego. Todos estão sendo prejudicados, sem qualquer compensação.
Não é nossa intenção alegar que não haja meios de elevar os salários. Queremos, simplesmente, assinalar que o método aparentemente simples de elevá-los por decreto é errado, e o pior de todos. A melhor maneira de elevar salários é aumentar a produtividade do trabalho. Quanto mais o trabalhador produz, tanto mais aumenta a riqueza de toda a comunidade. Quanto mais produz, tanto mais seus serviços têm valor para os consumidores e, portanto, para os empregadores. E quanto mais operar a valer para o empregador, tanto maior salários ganhará. O salário real vem da produção, não de decretos governamentais.
Assim sendo, a política governamental deveria ser dirigida não no sentido de impor mais exigências onerosas ao empregador, mas, ao contrário, no de encorajar políticas que já favoreçam os lucros, que levem o empregador a investir em máquinas melhores e mais modernas, possibilitando o aumento da produtividade dos trabalhadores. Em suma, encorajar o acúmulo de capital, aumentando tanto ao nível de emprego como de salários.
20. OS SINDICATOS AUMENTAM OS SALÁRIOS?
A crença de que os sindicatos podem elevar os salários de todos os trabalhadores é uma das grandes ilusões de nossa época. A sedução resulta da falha em não se reconhecer que os salários são, basicamente, determinados pela produtividade do trabalho.
Isso não significa que os sindicatos não possam desempenhar funções úteis ou legítimas. O mercado de trabalho não funciona perfeitamente. A sua função primordial é garantir que os seus membros recebam pelos serviços que prestam, informando o verdadeiro valor de mercado por seus serviços.
É fácil, porém, para os sindicatos, conforme provou a experiência – especialmente com o auxílio de uma legislação trabalhista que impõe obrigações apenas para os empregadores –, ir além de suas legítimas funções, agir irresponsavelmente e abraçar uma política de curta visão e anti-social. Fazem-no, por exemplo, sempre que procuram fixar os salários de seus membros acima do valor real de mercado. Tal tentativa sempre acarreta desemprego. Isso, porém, só pode ser obtido através de alguma forma de intimidação ou coerção.
A greve é o caso mais óbvio do emprego de intimidação e força para exigir e conservar os salários dos membros de um determinado sindicato acima do valor real do mercado de trabalho. Quando os operários empregam a intimidação e a violência para impedir o empregador de contratar novos operários permanentes para substituí-los o caso torna-se discutível. Os piquetes estarão sendo usados não só contra o patrão, mas contra outros operários. Esses outros estão dispostos a aceitar os empregos que os antigos empregados deixaram vagos, e pelos salários que os antigos estavam rejeitando.
Se, portanto, os antigos operários passarem a impedir pela força que novos trabalhadores os substituam, impedem que estes escolham a melhor alternativa que se abre para eles e força-os a aceitar alternativas piores. Os grevistas, portanto, estão empregando a força para manter sua posição privilegiada contra outros operários.
Somos, assim, levados a concluir que sindicatos, embora possam conseguir por algum tempo um aumento no salário nominal para seus membros à custa dos empregadores e mais ainda à custa dos trabalhadores não-sindicalizados, na realidade não conseguem, a longo prazo e para todo o conjunto dos trabalhadores, um aumento dos salários reais.
A crença de que isso é possível apóia-se numa série de ilusões. Uma delas é a falácia do post hoc, ergo propter hoc, que vê o enorme aumento de salários, na segunda metade do século, como decorrência, principalmente, do crescimento do investimento de capitais e do progresso científico e tecnológico, e o atribui a sindicatos, porque esses também cresceram durante o mesmo período.
Mas o erro mais responsável por essa ilusão é considerar que o aumento de salários, causado pelas exigências dos sindicatos, traz benefícios a curto prazo para determinados trabalhadores, que mantêm seus empregos, deixando de examinar os efeitos desse aumento sobre o emprego, a produção e o custo de vida de todos os trabalhadores, inclusive os que forçaram o aumento.
21. O PREÇO “JUSTO”
Autores amadores em assuntos econômicos estão sempre pedindo preços e salários “justos”. Essas nebulosas concepções de justiça econômica vêm-nos dos tempos medievais e se opõem à dos economistas clássicos, para quem preços funcionais são os que estimulam o maior volume de produção e vendas, e salários funcionais são os que tendem a criar o mais alto volume de emprego e salários.
Uma concepção mais adequada é de que salários de equilíbrio são os que resultam da igualdade entre oferta e procura de trabalho. Se, através de ação governamental ou particular, se procura elevar os preços acima do seu valor de equilíbrio, reduz-se a procura e, portanto, reduz-se também a produção. Se se tenta reduzir os preços abaixo de seu nível de equilíbrio, a conseqüente redução ou eliminação dos lucros significará uma queda na produção. Forçar os preços, portanto, quer para cima quer para baixo de seus níveis de equilíbrio, terá como resultado a redução no volume de empregos e produção abaixo daquele em que poderia ficar, se a situação fosse outra.
Quanto aos preços, salários e lucros que devem determinar a distribuição desse produto, os melhores preços não são os mais elevados, mas os que estimulam o maior volume de produção e vendas. As melhores taxas de salário não são as mais elevadas, mas as que resultam em plena produção, pleno emprego e maior folha de pagamento. Os melhores lucros, do ponto de vista não só da indústria como do trabalho, não são os mais baixos, mas os que encorajaram a maior parte das pessoas a tornarem-se empregadores ou a proporcionar maior número de empregos que antes. Se procurarmos dirigir a economia em benefício de um único grupo ou classe prejudicaremos ou destruiremos todos os grupos, inclusive os membros da própria classe em benefício da qual estivemos tentando dirigi-la.
Muitos ficam indignados à simples menção da palavra “lucro”. Isso indica como é pequena a compreensão que se tem da função vital que ele exerce em nossa economia. Numa economia livre, na qual salários, custos e de preços são deixados à livre ação do mercado competitivo, a perspectiva de lucros decide que artigos serão fabricados, em que quantidade e que artigos não serão produzidos. Se não há lucro na fabricação de determinado artigo é sinal de que o trabalho e o capital dedicados à sua produção estão mal dirigidos; o valor dos recursos consumidos na fabricação do artigo é maior que o valor do próprio artigo.
Uma das funções dos lucros é enviar e dirigir os fatores da produção de modo a serem distribuídos entre milhares de artigos diferentes, de conformidade com a procura. Nenhum burocrata, por mais brilhante que seja, poderá, arbitrariamente, solucionar esse problema. As liberdades de preços e de lucros elevam a produção ao máximo e reduzem a escassez mais depressa que qualquer outro sistema. Preços tabelados e lucros limitados arbitrariamente só poderão prolongar o déficit e reduzir a produção e o número de empregos. Finalmente, é função dos lucros fazer constante pressão sobre o dirigente de todo negócio competitivo para que reduza custos e aumente a eficiência.
Em suma, os lucros, que resultam da relação entre o custo e os preços, não só nos dizem qual a mercadoria mais econômica para produzir, mas também quais os meios mais econômicos para produzi-la.
O erro que mais se evidencia e, também, o mais antigo e persistente, sobre o qual repousa a atração da inflação, está em confundir “dinheiro” com riqueza. “Considerar a riqueza como o dinheiro, ouro ou prata”, escreveu Adam Smith há quase dois séculos, “é uma noção popular que deriva, naturalmente, da dupla função da moeda, como instrumento de trocas e medida de valor (. . .) Para enriquecer é preciso ter dinheiro, e na linguagem comum riqueza e dinheiro são considerados, sob certo aspecto, sinônimos.”
Os inflacionistas de maior renome reconhecem que qualquer aumento substancial da quantidade de moeda reduzirá o poder aquisitivo de cada unidade monetária (o que é o mesmo que o aumento dos preços das mercadorias). Isso, porém, não os perturba. Pelo contrário, é essa precisamente a razão porque desejam a inflação. Alguns deles alegam que esse resultado torna melhor a posição dos devedores pobres. Outros apontam que o remédio é essencial para a cura de uma depressão, “para facilitar a decolagem da indústria” e atingir o “pleno emprego”.
Há inúmeras formas através das quais ocorre um aumento da quantidade de dinheiro. Digamos que surge porque o governo faz mais gastos do que arrecada com impostos. O primeiro efeito desses gastos será a elevação dos preços dos bens e serviços comprados pelo governo e a colocação do dinheiro adicional em mãos dos fornecedores e seus empregados. O gasto desses recursos elevará os preços pelo aumento da demanda dos que têm a renda aumentada.
Isso não quer dizer, porém, que a riqueza e os rendimentos relativos permaneçam os mesmos. Pelo contrário, a inflação afeta a fortuna de um grupo diferentemente da fortuna de outros. Os primeiros grupos a receberem o dinheiro adicional serão os mais beneficiados. Os grupos que não tenham tido qualquer aumento de renda monetário serão compelidos a pagar preços mais elevados para os bens que compram, passando para um padrão de vida mais baixo que o anterior.
Pode ser que se a inflação for detida alguns anos depois o resultado venha a ser, digamos, um aumento médio de 25% no rendimento monetário, um aumento médio de igual porcentagem nos preços, ambos razoavelmente distribuídos por todos os grupos.
Isso, porém, não eliminará os ganhos e perdas do período de transição.
Assim, a inflação é simplesmente um outro exemplo de nossa lição fundamental.
Poderá na verdade trazer a grupos favorecidos durante um curto período certos benefícios, mas somente à custa de outros. E, a longo prazo, a inflação causa desastrosas conseqüências para a toda a comunidade. Mesmo uma inflação relativamente baixa distorce a estrutura da produção, promovendo a expansão de algumas indústrias à custa de outros. Isso implica em má aplicação e desperdício de capital. Quando a inflação cai, a inversão mal dirigida do capital – quer em maquinaria, fábricas, quer em edifícios e estruturas – não poderá proporcionar dividendos adequados, e perde grande parte de seu valor.
Como ocorre com qualquer outro imposto, a inflação desencoraja toda prudência e parcimônia. Encoraja um esbanjamento e toda espécie de desperdício inconsciente, e torna muitas vezes mais lucrativo especular que produzir. Invariavelmente termina em amarga desilusão e colapso.
24. O ASSALTO À POUPANÇA
Desde tempos imemoriais a sabedoria proverbial tem ensinado a virtude da poupança e prevenido contra as conseqüências da prodigalidade e do desperdício. Os economistas clássicos, refutando as falácias de seus próprios dias, mostraram que a política de economizar, que visava o melhor interesse individual, visava também os melhores interesses da nação. Mostraram que o poupador nacional, ao fazer provisão para seu próprio futuro, não estava prejudicando, mas auxiliando toda a comunidade.
Atualmente, porém, a virtude da poupança e sua defesa pelos economistas clássicos mais uma vez estão sendo atacadas por outras supostas razões, ao passo que a teoria oposta, a de gastar, está em voga.
Em síntese, o que as pessoas ignoram é que, no mundo moderno, “poupança” é apenas outra forma de gastar. A diferença está em que se entrega o dinheiro a outrem, que o despende a fim de aumentar a produção. Uma falácia diz que as indústrias que produzem para o consumo são criadas sob a expectativa de certa procura, e que se as pessoas se inclinam a economizar contrariam aquela expectativa e dão origem à
depressão.
Outra falácia é a de que poupança é às vezes usada para indicar entesouramento e outras vezes para indicar investimento, sem qualquer distinção precisa entre esses termos. Diversas causas podem explicar porque alguns guardam dinheiro em casa, mas certamente esse entesouramento é pequeno. Dizer que poupança é igual a entesouramento é voltar ao erro que já examinamos: o esquecimento de que aquilo que é economizado em bens de consumo é despendido em bens de capital, e que essa “poupança” não significa necessariamente a retração no gasto total.
Ainda outra falácia aponta que poupança e investimento são iguais apenas por acidente. Mas o aumento da poupança criará sua própria procura pela redução das taxas de juros de maneira natural, induzindo um aumento no investimento. O oposto elevaria a taxa de juros e naturalmente induziria uma redução nos investimentos.
Portanto, exceto por um pequeno entesouramento para fazer face às transações normais da economia, poupança e investimento tenderão a igualar-se pelo mecanismo da taxa de juros.
Finalmente, há os que acham que há um limite à capacidade da economia em absorver novos investimentos. Mas não haverá um “excesso” de capital até que o país mais atrasado esteja tão bem equipado tecnologicamente quanto o mais adiantado e até que a fábrica mais ineficiente do país se coloque à altura da fábrica com equipamento mais moderno e aprimorado.
Tradução: Roberto Fendt
Fonte: http://www.ordemlivre.org/
http://www.endireitar.org/site/endireitar/282-economia-numa-unica-licao



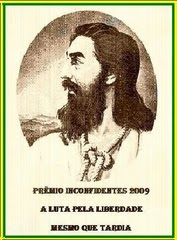






Nenhum comentário:
Postar um comentário